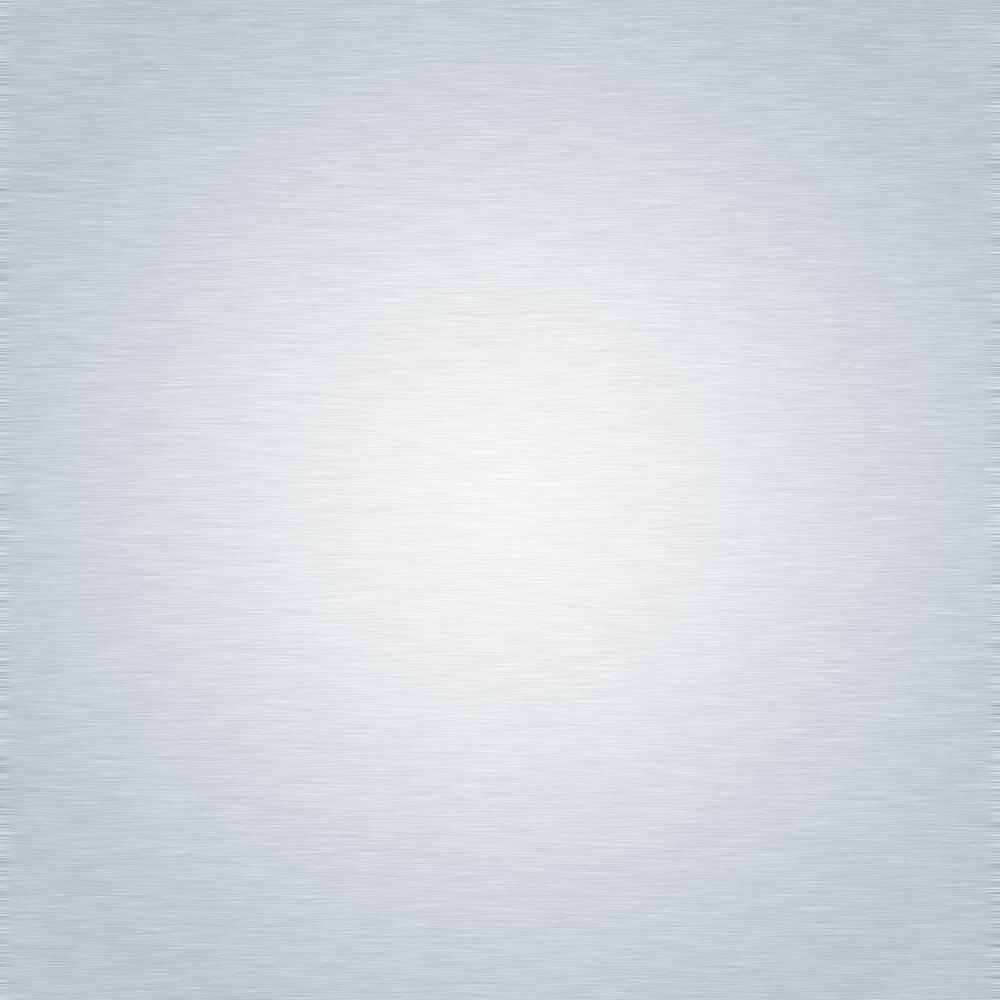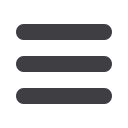
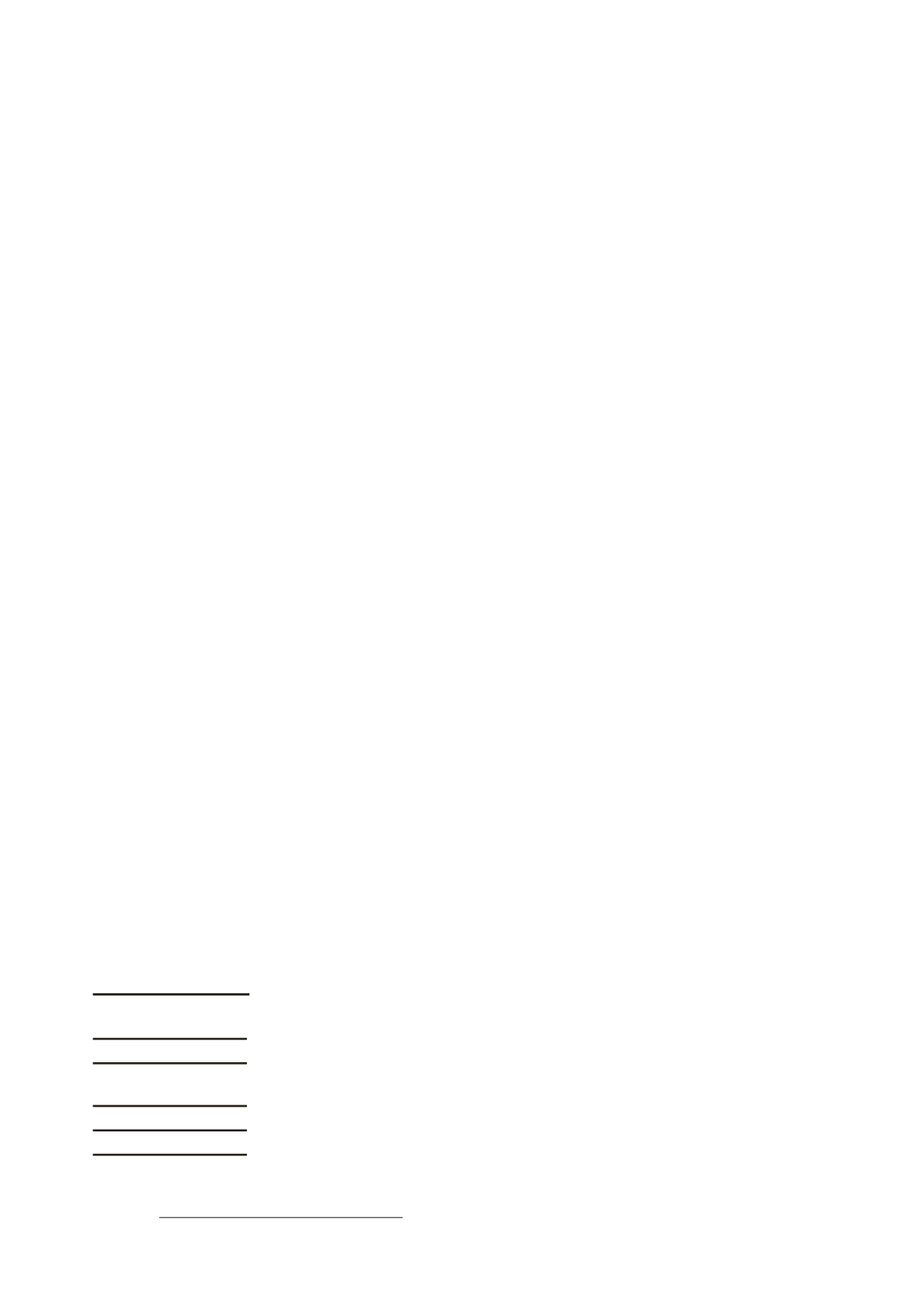
R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 20, n. 79, p. 309 - 347, Maio/Agosto 2017
318
proposições sintéticas relativas ao mundo objetivo dos fatos”.
35
As normas
escapam a estas duas esferas: não são nem empíricas nem tautológicas, e
portanto não podem ser fundamentadas à luz da única instância racional
sobrevivente: a razão teórica.
2.3. A Busca por um Princípio de Regência para a Teoria do Direito
Por todo o exposto, verifica-se que uma norma (moral ou jurídica)
somente pode ser entendida como ato de vontade, nunca como um produto
da razão teórica.
36
Ao contrário das puras descrições, que podem ser empiri-
camente controladas, qualquer prescrição é, necessariamente, o produto do
exercício de autoridade por um sujeito,
37
visando a determinados fins. Uma
teoria do Direito – que pretenda efetivamente ser uma teoria, e não uma
prática disfarçada –, apenas pode descrevê-lo; ela não pode, como o Direito
produzido pela autoridade jurídica (através de normas gerais ou individu-
ais), prescrever seja o que for.
38
Como consequência, o princípio de regência do Direito difere subs-
tancialmente do princípio de regência dos fenômenos não normativos, ou
seja, daqueles que não expressam um dever. Assim, enquanto as leis dos fe-
nômenos da natureza são edificadas com base no
princípio da causalidade
,
os acontecimentos normativos se apoiam em princípio diverso, a saber, no
princípio da imputação
.
39
Neste contexto, o
mundo natural
é entendido como o plano exis-
tencial (mundo físico) determinado pela ocorrência de um nexo necessá-
rio (princípio da causalidade), o qual o pensamento humano meramente
constata. De outro lado, repousa o
mundo cultural
, de caráter normativo,
explicável pelo princípio da imputação (relação de condição e consequên-
cia atribuída pelo homem), quando há descrição de uma relação específi-
ca estabelecida entre dois fatos diferenciados dos acontecimentos causais,
em virtude de ser essa relação alheia aos fatos que descreve.
40
Assim, ao
contrário da causalidade natural, a “causalidade normativa” (leia-se: a im-
35 ROUANET, Paulo Sérgio.
Ética Iluminista e Ética Discursiva
. In:
Habermas 60 Anos. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1981, p. 31.
36 KELSEN, Hans.
Teoria Geral das Normas
. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1986, p. 108.
37 VON WRIGHT, Georg Henrik.
Ser y Deber Ser
.
In:
AARNIO, Aulis
et alli
(Org.). La Normatividad del Derecho.
Barcelona: Gedisa Editorial, 1997, p. 93.
38 KELSEN, Hans.
Teoria Pura do Direito
. 2ª ed., São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 82.
39 SGARBI, Adrian.
Hans Kelsen – Ensaios Introdutórios (2001-2005)
. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2007, p. 6 e 7.
40 Idem, p. 7.