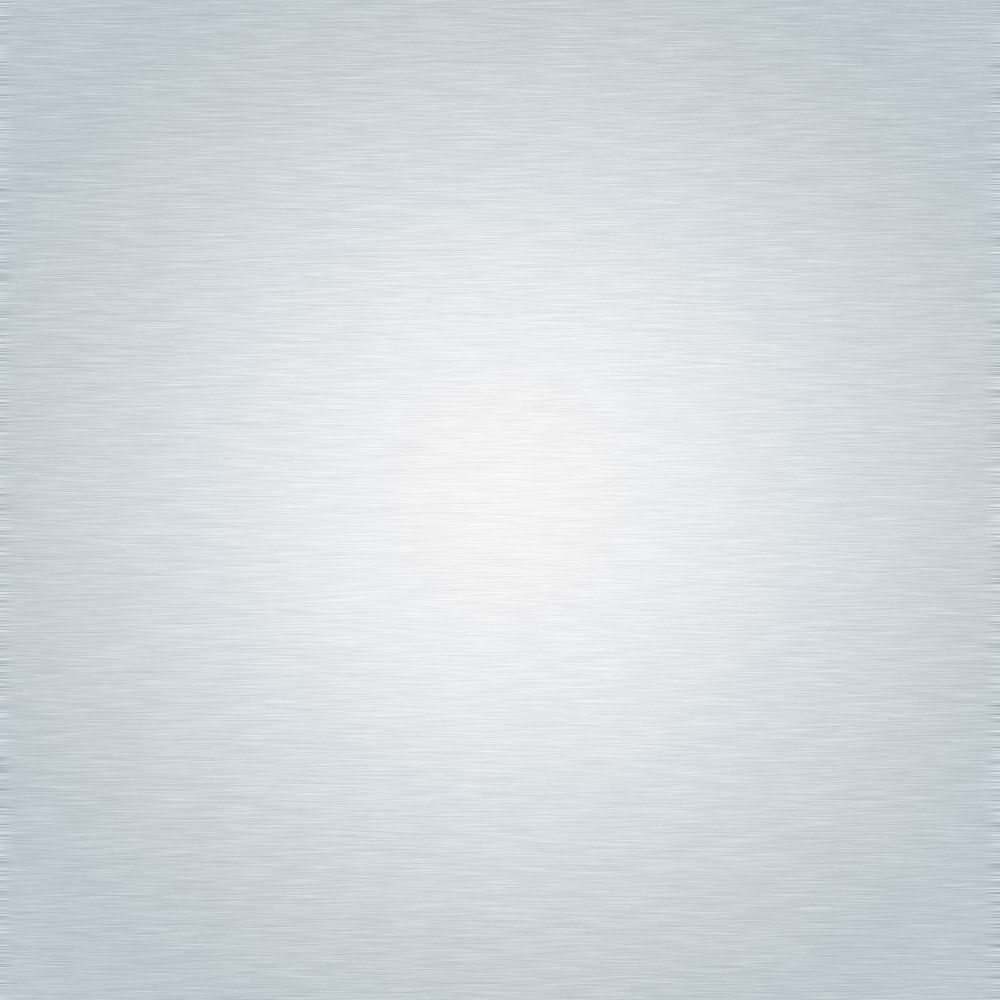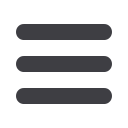
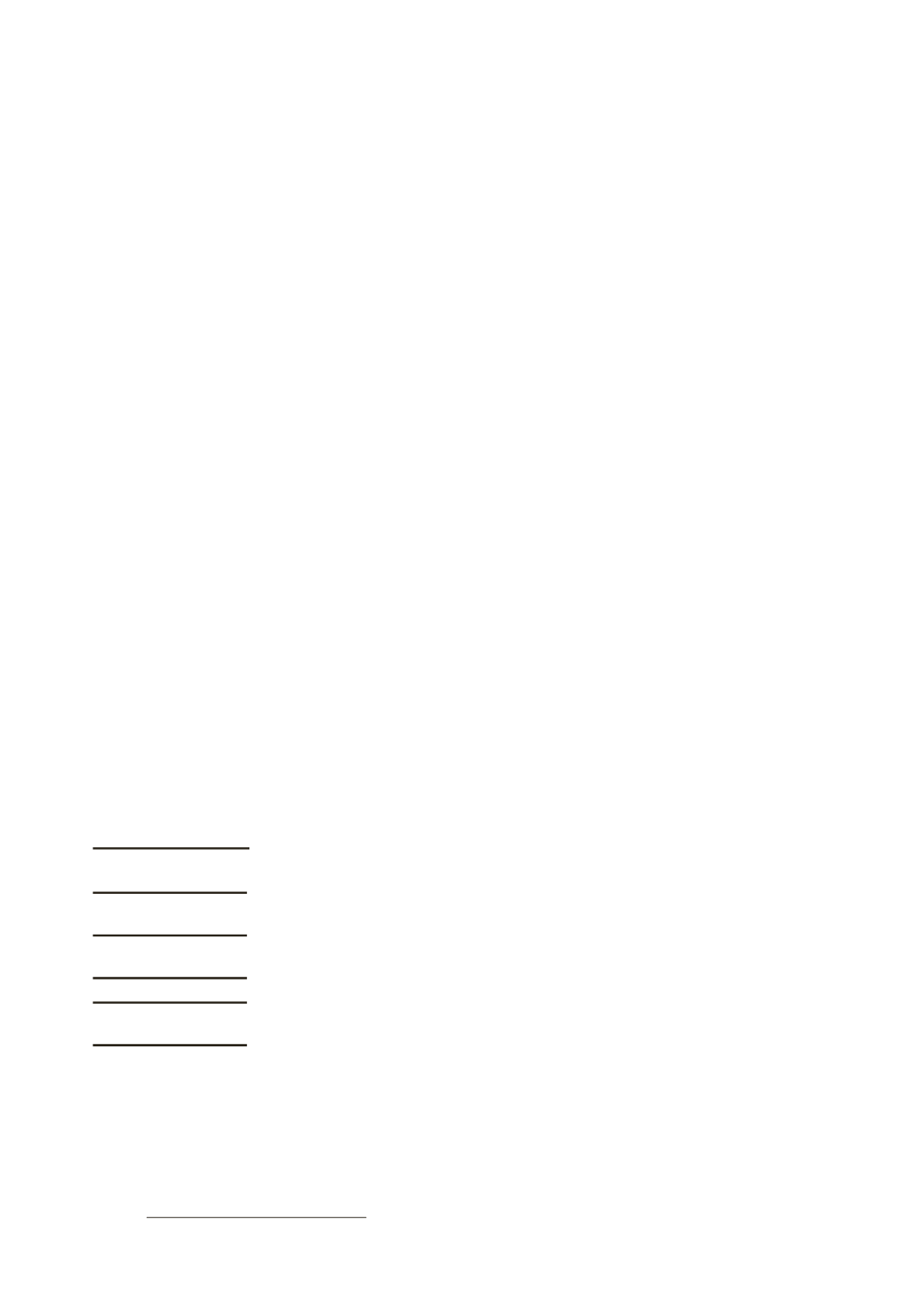
R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 164 - 195, Janeiro/Abril 2018
168
projeto desse diploma, de cujo anteprojeto fora autor principal. Na
Expo-
sição de Motivos
que o acompanhou, manifestou a opção arriscada pelas
definições legais,
10
muito frequentemente inspiradas, no caso desse Estatuto,
pelos estudos do grande jurista italiano.
11
Essa integração, obviamente, deu
maior força e permanência à presença das ideias da Escola de São Paulo nos
textos do Código agora revogado, apenas o segundo de âmbito nacional,
cuja vigência se alongou por mais de quarenta anos.
12
Pesou também a diferença entre a evolução lenta e gradual dos con-
ceitos na doutrina europeia e a abrupta translação da polêmica para a rea-
lidade brasileira, onde não se conhecera a longa transição entre a doutrina
civilística da ação e a elaborada teoria dita eclética
,
com os estágios interme-
diários percorridos
.
No Brasil, saltamos todo o interregno de maturação e
assentamento das sucessivas propostas sobre o tema; percorremos no curto
espaço de uma década um caminho que a doutrina europeia precisara de
quase um século para completar.
13
Os juristas brasileiros de então, presos à
tradição romanística, vendo o direito de agir como o
ius quam sibi debeatur
in iudicio persequendi
de Celso, foram, sem prolegômenos, apresentados às
concepções longamente decantadas alhures. A visão do edifício pronto, sem
andaimes e tapumes, terá contribuído para a adesão e o encantamento dos
estudiosos brasileiros. Sequer se podia ver claramente, no panorama da dou-
trina anterior, o discrime entre pretensão e ação – no qual se identifica a pe-
dra de toque da autonomia do Direito Processual em face do Substancial.
14
Entre os muitos resultados dessa realidade está o de se haver fixado
o conceito de
ação
, quase exclusivamente, como um direito – o direito de
agir.
15
Passaram a segundo plano todas as demais acepções em que o termo
pode ser e efetivamente vem sendo tomado, em foco jurídico e mesmo no
10 “Exposição de Motivos”, item 8. Não arrostou o Código de 1973, é verdade, os riscos de definir diretamente
ação
e
condições da ação
, mas deu pistas e exemplificação que importam na tomada de posição muito clara quanto a esses conceitos.
11 Assim é conhecido e reconhecido, ainda que seu nascimento talvez não se tenha dado em território da Itália, que ele
sempre identificou como sua pátria.
12 A doutrina constatou esse poderoso influxo: cf.
O
vídio
A
raújo
B
aptista da
S
ilva
e
F
ábio
L
uiz
G
omes
,
Teoria geral do
Processo civil
, p. 117, 4. ed. São Paulo, 2006.
13 J. I.
B
otelho de
M
esquita
Botelho de Mesquita,
Da ação civil
, p. 48, São Paulo, 1975
14 Por todos,
E
duardo
J. C
outure
,
Introducción al Estudio del Proceso Civil
, p. 11, 2ª ed.. Buenos Aires, 1953;
id
., em síntese
excelente,
Fundamentos del Derecho Procesal Civil
, p. 58, Buenos Aires, 1958.
15 Tipicamente, foi assim definida a ação: “O direito constante da lei processual civil, cujo nascimento depende de mani-
festação de nossa vontade. Tem por escopo a obtenção da prestação jurisdicional do Estado, visando, diante da hipótese
fático-jurídica nela formulada, à aplicação da lei (material).” (
A
rruda
A
lvim
,
Manual de Direito Processual Civil,
vol. 1, p.
440-1, 8ª ed., São Paulo, 2003). Não é substancialmente diversa a definição que o mesmo autor oferece em seu
Tratado de
Direito Procesual Civil
, vol . I, p. 367, São Paulo, 1990. Mais sintética, mas de igual sentido, outra definição clássica: “Direito
ao exercício da atividade jurisdicional, ou o poder de exigir esse exercício.” (
A
ntonio
C
arlos
de
A
raújo
C
intra
; A
da
P
ellegrini
G
rinover
; C
ândido
R
angel
D
inamarco
,
Teoria Geral do Processo,
São Paulo, p. 265, 13ª ed., 1997.