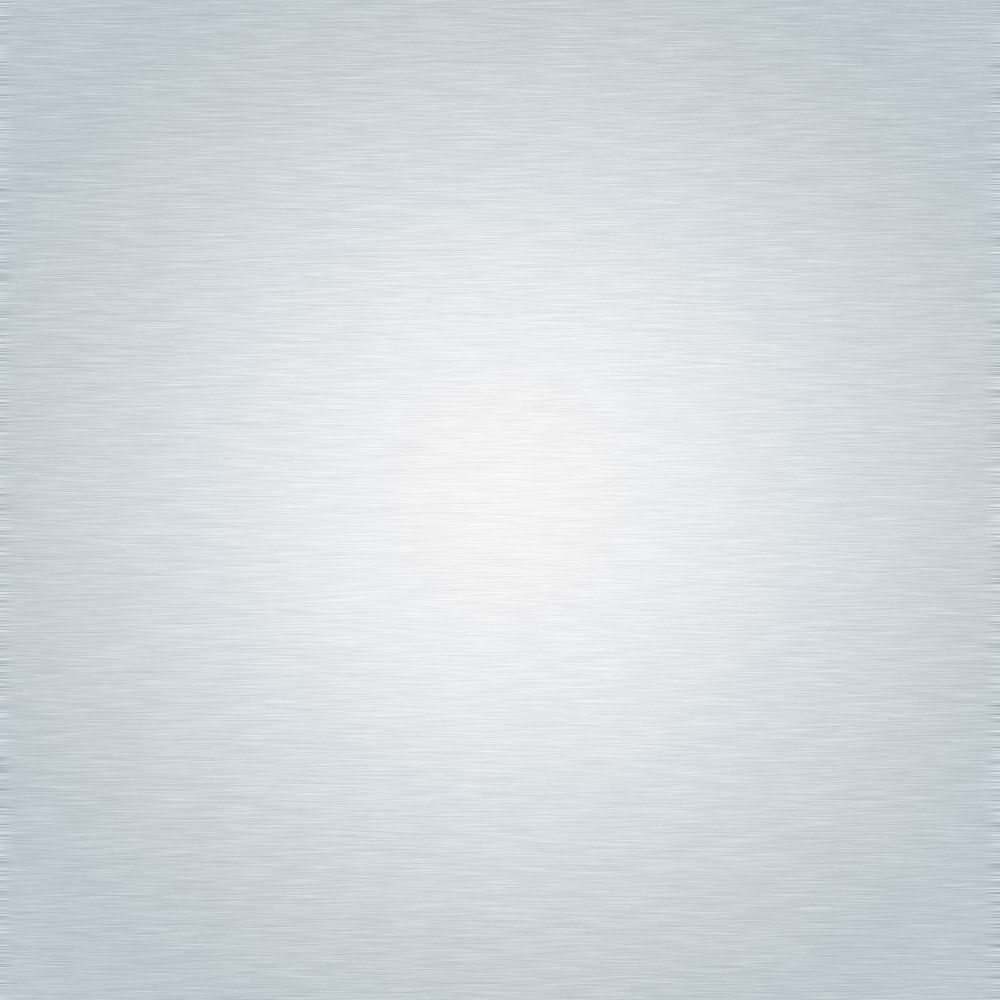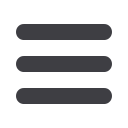
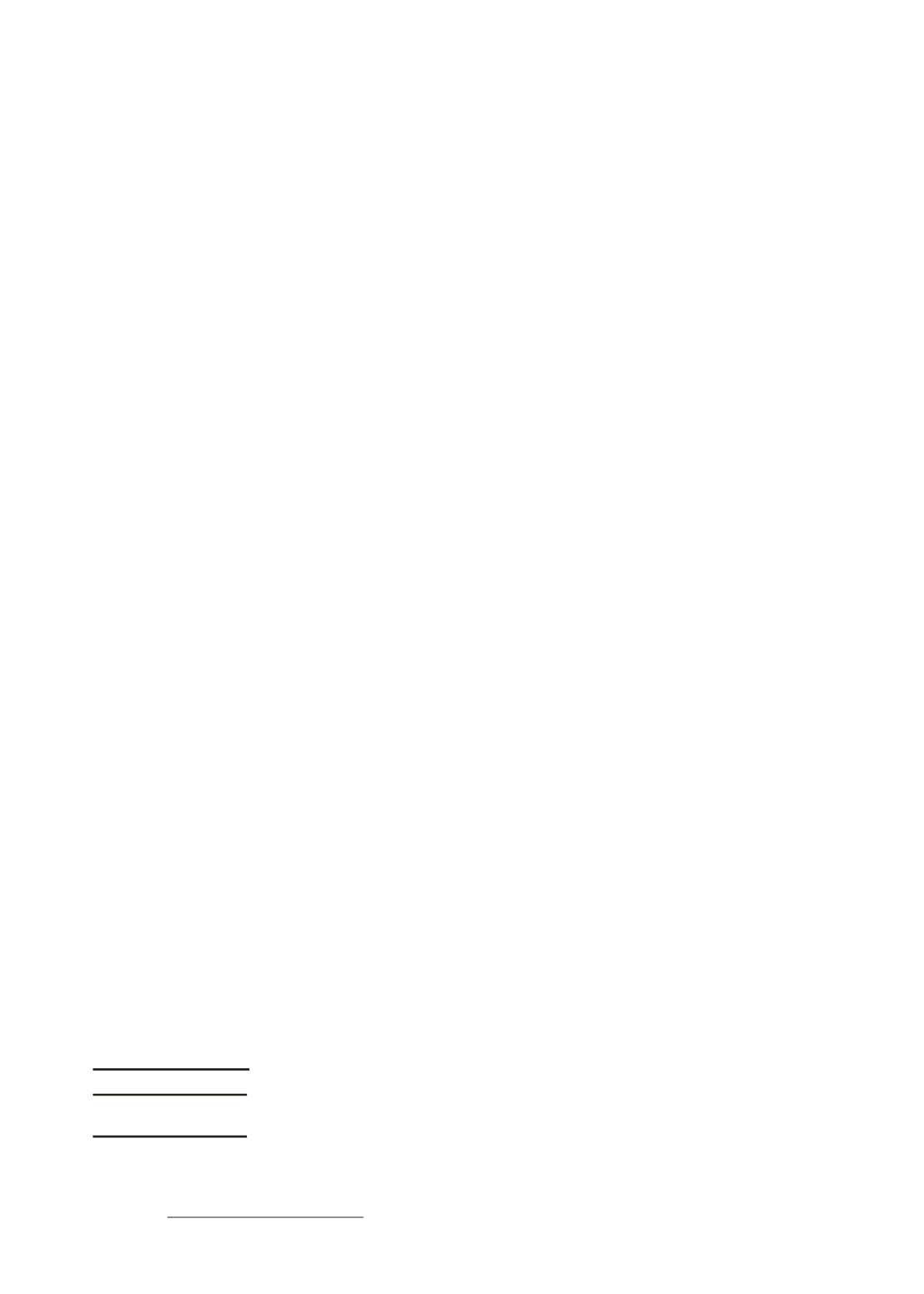
R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 109 - 134, Janeiro/Abril 2018
116
2 – A doutrina brasileira anterior ao Código de 2015
Considero desnecessária a retrospectiva da evolução do direito positi-
vo brasileiro a respeito do tema das coações indiretas, por todos conhecida,
desde o Código de 1939 (arts. 999 e 1.005), passando pela redação original
do Código de 1973, no seu artigo 287, que admitia
astreintes
nas execuções
de prestações de fazer ou não fazer; pelo Código do Consumidor e pela
expansão dessas medidas a outros tipos de providências, posteriormente es-
tendidas às obrigações de entrega de coisa; até chegar ao Código de 2015
que, no seu artigo 139, inciso IV, deu mais um passo adiante para aplicá-las
às ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
Referindo-se aos dispositivos do Código de 1939 que tratavam da exe-
cução das obrigações de fazer e não fazer, Liebman, nas aulas sobre execução
que ministrou em 1945 na Faculdade de Direito de São Paulo, justificava as
medidas coativas, que então se limitavam à multa pecuniária, como o único
meio “para procurar satisfazer o credor em forma específica”
26
, já sinalizan-
do para a subsidiariedade e excepcionalidade da sua aplicação.
Igualmente Barbosa Moreira
27
, referindo-se em 1986 à tendência cres-
cente de utilização das
astreintes
, acentuava que não havia razão para a sua
utilização, se o credor pudesse obter por outro meio a satisfação específica
do seu direito, e que deveria ser manejada com flexibilidade e com alguma
discrição pelo juiz, na busca do equilíbrio entre a efetividade da execução e
a necessidade de não onerar o devedor além da medida razoável.
No estudo de 2004 em que examinei a evolução da tutela específica em
relação às prestações de fazer, não fazer e entrega de coisa, saudando-a como uma
exigência da efetividade da execução
28
, acentuei que, apesar de tal mecanismo ins-
tituir técnicas que visam a assegurar a mais ampla satisfação do credor, a escolha,
todavia, dos meios de coação não consegue ultrapassar certos limites naturais,
como a destruição ou a perda da coisa na execução para entrega de coisa (CPC,
art.627), a resistência inflexível do devedor ao cumprimento de prestações de fazer
personalíssimas e a irreversibilidade fática da violação de obrigação de não fazer.
Outras vezes é o próprio ordenamento jurídico que impõe limites à
plena efetivação da tutela específica, como o respeito à dignidade humana
do devedor (Constituição, artigo 1ª, inciso III).
26 LIEBMAN, Enrico Tullio.
Processo de execução.
4ª ed. São Paulo: Saraiva. 1980. P. 32.
27 MOREIRA, José Carlos Barbosa Moreira. Tendências na execução de sentenças e ordens judiciais. In
Temas de Di-
reito Processual.
4ª série. São Paulo: Saraiva. 1989. P. 237-238.
28 GRECO, Leonardo. Tutela jurisdicional específica. In
Revista Dialética de Direito Processual
, n. 23. São Paulo: ed.
Dialética. 2005. P. 70-84.