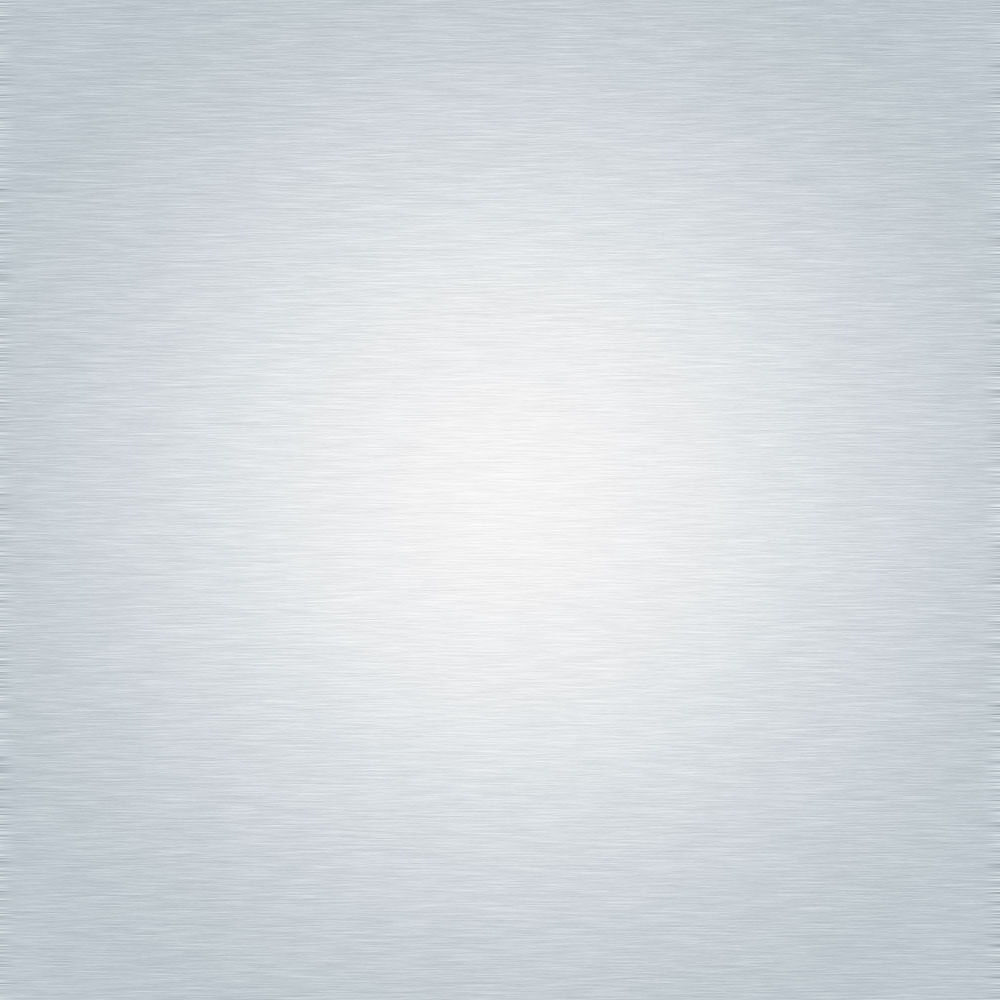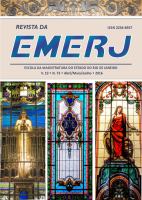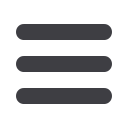
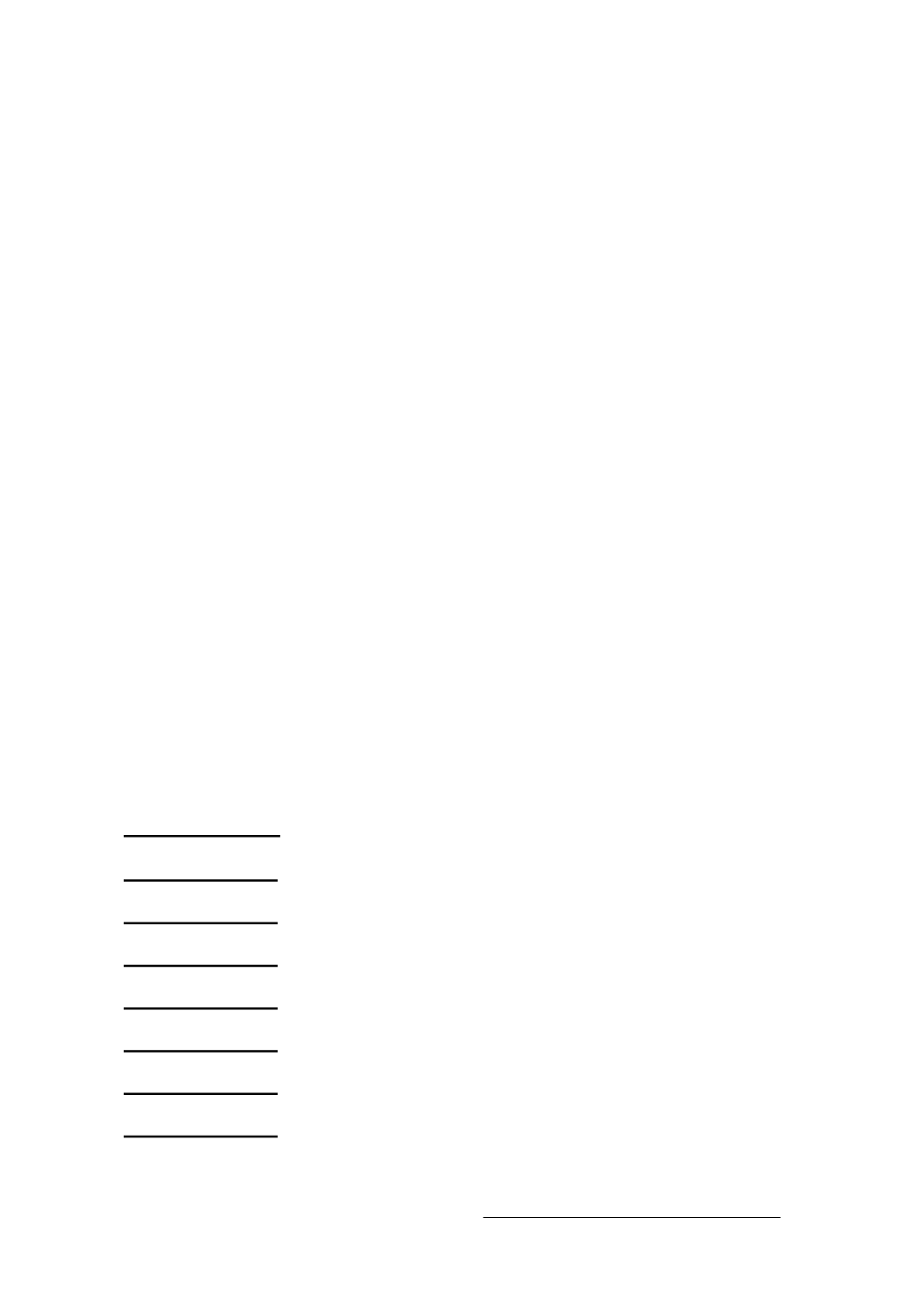
R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 73, p. 162 - 181, abr. - jun 2016
175
A democracia implica, além da atribuição do poder decisório às
maiorias, a instauração de um contexto de diálogo, de respeito pela po-
sição do outro e de garantia dos direitos fundamentais
57
, sem exclusão.
Por isto que a administração pública dialógica contrasta com
a administração pública monológica, refratária à instituição e ao
desenvolvimento de procedimentos comunicacionais com a sociedade.
Épossível identificar nosmodelosdialógicosoprincípioda separação
de poderes com o sistema de freios e contrapesos, que, “embora seja
relativamente recente na Europa Continental, não é propriamente novo
nos Estados Unidos”. Atualmente, vem se verificando a globalização do
modelo concebido pelos
founding fathers
, em que nenhum dos “pode-
res” assume a função de exclusivo produtor de normas jurídicas e de polí-
ticas públicas -
police-maker
; antes os “poderes” constituem fóruns políti-
cos superpostos e diversamente representativos, cuja interação e disputa
pela escolha da norma que regulará determinada situação tende a produ-
zir um processo deliberativo mais qualificado do que a mítica associação
de um departamento estatal à vontade constituinte do povo
58
.
No universo doutrinário anglo-saxão, há grande número de estu-
dos salientando as vantagens dos modelos teóricos que valorizam diálo-
gos entre órgãos e instituições, como se pode depreender das pesquisas
de Laurence G. Sager
59
, Christine Bateup
60
, Mark Tushnet
61
, Mark C. Miller
e Jeb Barnes
62
. Tal tendência é acompanhada pela doutrina canadense
(Peter W. Hogg e Allison A. Bushell
63
).
Janet Hiebert
64
sugere uma compreensão da teoria dialógica segun-
do a qual deve ocorrer interação horizontal entre as instituições. Assim
57 SOUZA NETO, Cláudio Pereira.
Teoria Constitucional e Democracia Deliberativa
: um estudo sobre o papel do Direito
na garantia das condições para cooperação na deliberação democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 302-303.
58 BRANDÃO, Rodrigo.
Supremacia Judicial versus Diálogos Constitucionais
– a quem cabe a última palavra sobre o
sentido da Constituição? Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 221.
59 SAGER, Laurence G.
Justice in Plainclothes: a theory of american constitucional practice
. New Haven: Yale Uni-
versity Press, 2004.
60 BATEUP, Christine.
"The Dialogical Promise": assessing normative potential of theories of constitutional dialogue.
Brooklyn Law Review
, v. 71, 2006.
61 TUSHNET, Mark.
"Weak Courts, strong rights: judicial review and social welfare right in comparative constitucio-
nal law."
Princeton:
University Press
, 2008.
62 MILLER, Mark C.; BARNES, Jeb (Eds.).
"Making police, making law: an interbranch perspective"
. Washington D.C:
Georgetown University Press
, 2004.
63 HOGG, Peter W.; BUSHELL, Allison A.
"The charter dialogue between Courts and legislatures (Or Perhaps The
Charter Of Rights Isn’t Such A Bad Thing After All)."
Osgood Hall law journal,
v. 35, n. 1, 1997, p. 105.
64 HIEBERT, Janet.
"New Constitutional Ideas. But can new parliamentary models resist judicial dominance when
interpreting rights?"
Texas:
Law Review
, v. 82:7, 2004, p. 1963-1987.