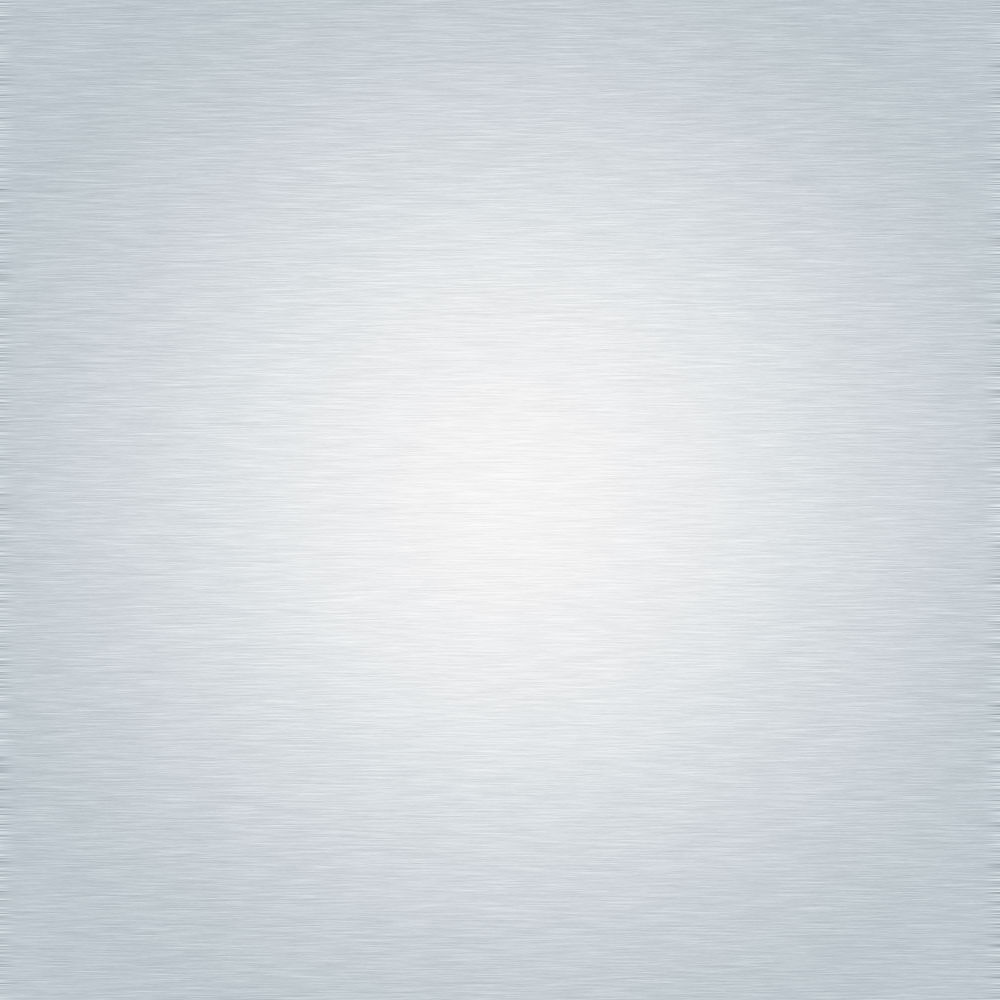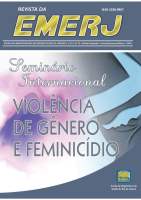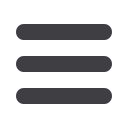
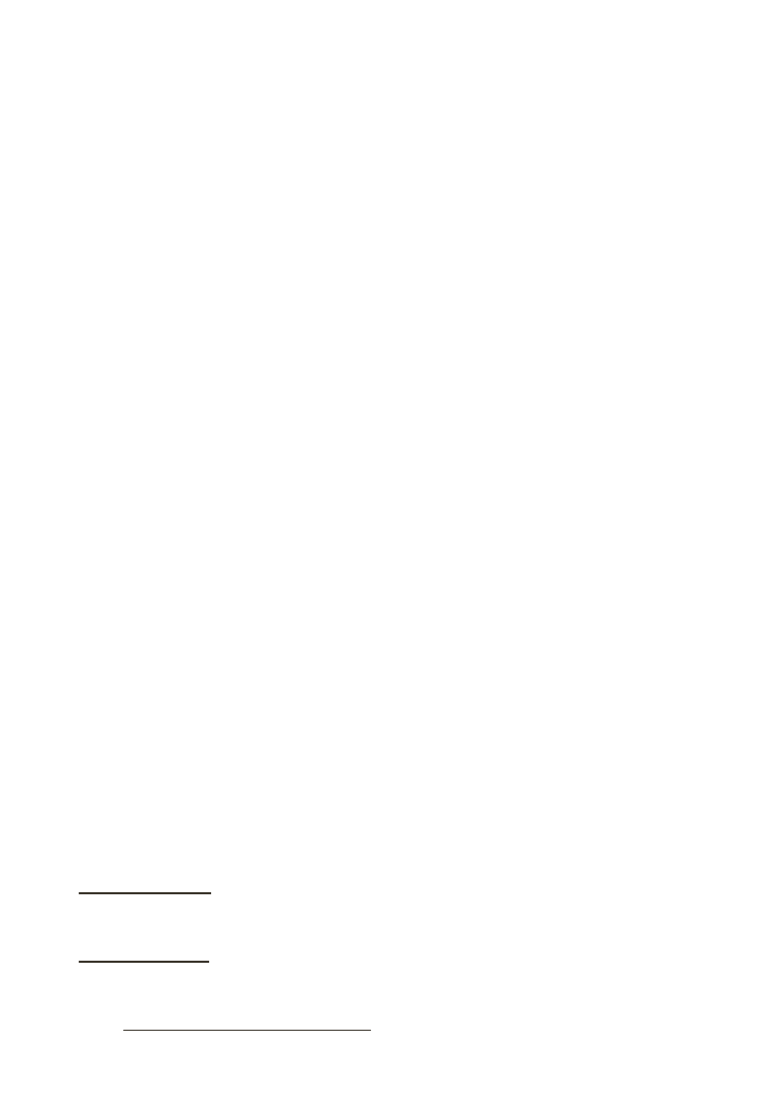
174
R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 72, p. 168 - 190, jan. - mar. 2016
cadas, radicalmente seu discurso. Passaram da complacência com deter-
minadas formas de manifestação de violência de gênero ao punitivismo
eficientista. O que as autoridades certamente não percebem é que, para
enfrentar de modo eficaz a violência contra a mulher, devem-se promo-
ver,
de fato,
políticas educacionais, que repercutam no “modo” como as
pessoas pensam, percebem, sentem e reagem frente ao pressupostos da
própria cultura patriarcal
12
.
Concentrar-se exclusivamente na punição da
ultima ratio
do pa-
triarcado, implica em negar a própria “letalidade” desse sistema cultural,
implica a negar que se trata de um sistema que produz e reproduz violên-
cia e desigualdade social entre os gêneros. Frente a essa explanação, é
sempre possível fazer ao menos duas objeções lógicas. As leis que tratam
da violência doméstica comumente fazem referência, como no caso bra-
sileiro, à necessidade do desenvolvimento de políticas públicas, incluindo
pesquisa, educação e outros tipos de intervenção social. Porém, trata-se,
em sua maioria, de normas programáticas que não permitem “cobrar”
das autoridades as medidas de implementação necessárias para atingir
esses objetivos. Ou seja, não estamos diante de uma obrigação de fazer.
E a outra objeção se refere ao próprio processo de mudança social. Até
que ponto o estado pode ter o protagonismo e a capacidade de promover
tamanha mudança social? E até que ponto o direito pode ser um instru-
mento de mudança
13
?
Em relação a essa última objeção eu diria que esse processo de
mudança já se iniciou. O crescente aumento de participação feminina
na esfera pública é hoje um fato, apesar de sua pouca representação em
cargos de poder. Esclareço com um exemplo muito concreto. Até poucos
anos nas universidades brasileiras (e aqui situo as próprias faculdades de
direito) não se ouvia falar em organizações estudantis feministas. Hoje a
situação é praticamente inversa, especialmente nas universidades públi-
cas. Portanto, não se trata de um processo de mudança “imposto de cima
para baixo”, mas de um processo de mudança que já está ocorrendo, mas
que pode ser mais efetivo se o Estado cumprir seu papel de tutela dos
direitos fundamentais de todas e todos.
12 Outros elementos podem ser aqui aduzidos para explicar a relação entre avanço e retrocesso, tais como a com-
plexa questão da cifra obscura e sua relação com a produção de dados estatísticos; a recusa de muitas vítimas em
socorrer-se do sistema penal punitivista por entender que este exclui seu direito de “escolha“; mas também o
aumento de denúncias nos últimos anos, decorrente da própria “politização” dessa forma de violência.
13 Sobre a mudança social e sua relação com o direito, Cf. SABADELL, Ana Lucia.
Manual de Sociologia Jurídica.
Introdução a uma leitura externa do direito
, Revista dos Tribunais, São Paulo, 6ª. edição, 2013, p. 87 e ss.