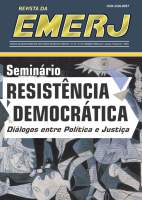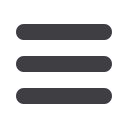

R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 18, n. 67, p. 119 - 141, jan - fev. 2015
129
democracia, para então que se possa, em alguma medida, identificar não
apenas traços de continuidade óbvios autoritários (como a militarização
das nossas polícias, por exemplo), mas surpreender plataformas e perfor-
mances únicas nestas mesmas circunstâncias, ou seja, transformações e
novas propriedades agravadas de sua própria atuação agora sob a cara-
puça democrática. Dizer que tal exercício de bipoder não é novo, como no
caso da prática violenta das polícias militares, por um lado, não elide de
maneira alguma a reflexão sobre as novidades inauditas em configurações
deste biopoder, radicalmente o oposto: a responsabilidade nos impõe in-
terrogá-las incessantemente tornando desnecessário enfrentá-lo; por ou-
tro viés, nada significa que se desconheçam as vertentes mais profundas
de certa governabilidade como esta. Muito pelo contrário. Estudiosos da
transição política talvez tenham ainda pouco atentado para a gestão deste
excesso: em suma, para além daquilo que se manteve, quer seja institu-
cionalmente, quer seja nas práticas brutais, sobretudo, cabe pensar sobre
aquilo que se incrementou dos fascismos policiais agora sob o manto de-
mocrático. Como gerir esta violência cotidiana passa por interrogar este
substrato cultural inédito mergulhado num sintoma que continua a pairar
no presente como legado.
Se a cidade, como vemos diuturnamente, expõe a militarização da
vida sob a forma hipertrofiada da dimensão vigilante-repressiva-punitivis-
ta do Estado, isto não pode ser escondido no anonimato das estruturas de
poder, historicamente neutralizadas. Há, portanto, a necessidade de fugir
de certa neurose sistêmica, irmã siamesa da naturalização da repressão
policial, que torna a brutalidade mera decisão técnica e os sujeitos seus
meros “cumpridores de ordens”, situação geradora de um “sistema dia-
bólico” que ninguém mais responde por si. São estes mesmos automatis-
mos, administradores da vida e que atravessam nossos corpos, exatamen-
te o âmago de uma
biopolítica
21
– poder que se exerce sobre a população,
21 De longa e profunda genealogia, a noção de “biopolítica” não é uma categoria de fácil apreensão, porém há uma
matriz conceitual com múltiplos sentidos. Sendo assim, desde logo, pode entender o conceito de “biopoder” como:
“el conjunto de mecanismos por medio de los cuales aquello que, en la especie humana, constituye sus rasgos bio-
lógicos fundamentales podrá ser parte de una política, una estrategia política, una estrategia general de poder; en
otras palabras, cómo, a partir del siglo XVIII, la sociedad, las sociedades occidentales modernas, tomaron en cuenta
el hecho biológico fundamental de que el hombre constituye una especie humana.” (FOUCAULT, Michel.
Seguridad,
Territorio, Población
. Curso en el Collège de France (1977-1978). Edicción establecida por Michel Senellart, bajo
la dirección de François Ewald y Alessandro Fontana. Traducido por Horacio Pons. Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica, 2006, p. 15). Noutros termos, é a politização da vida que captura o humano, sobremaneira a partir da
modernidade, e indica o início de uma ambivalência: a vida tanto como sujeito quanto objeto da política. Desde o
primeiro emprego do termo “biopolítica” por Rudolf Kjellén na década de 20 do século passado, conforme Edgar-
do Castro menciona, importa destacar duas etapas para aquilo que se compreende como o desenvolvimento da
“biopolítica”. Numa primeira fase o termo faz referência a uma concepção da sociedade, de Estado e da política em