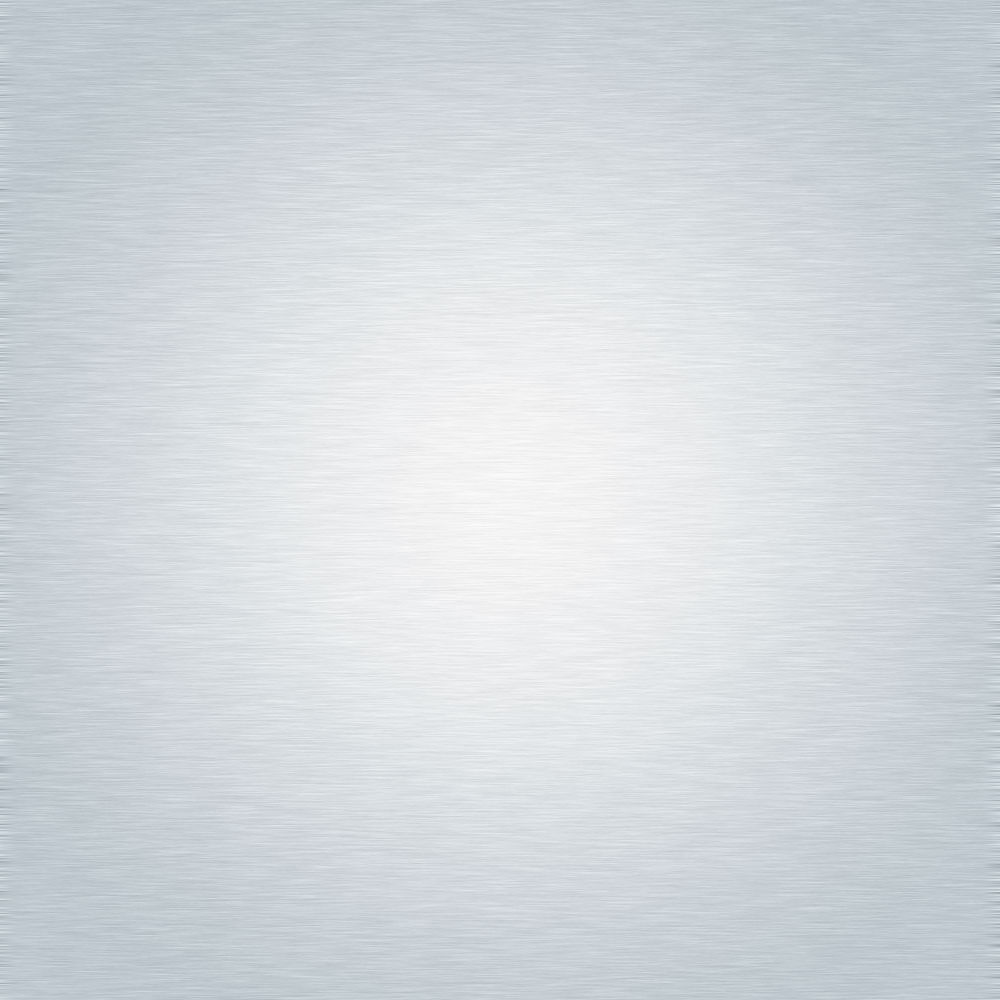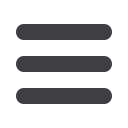
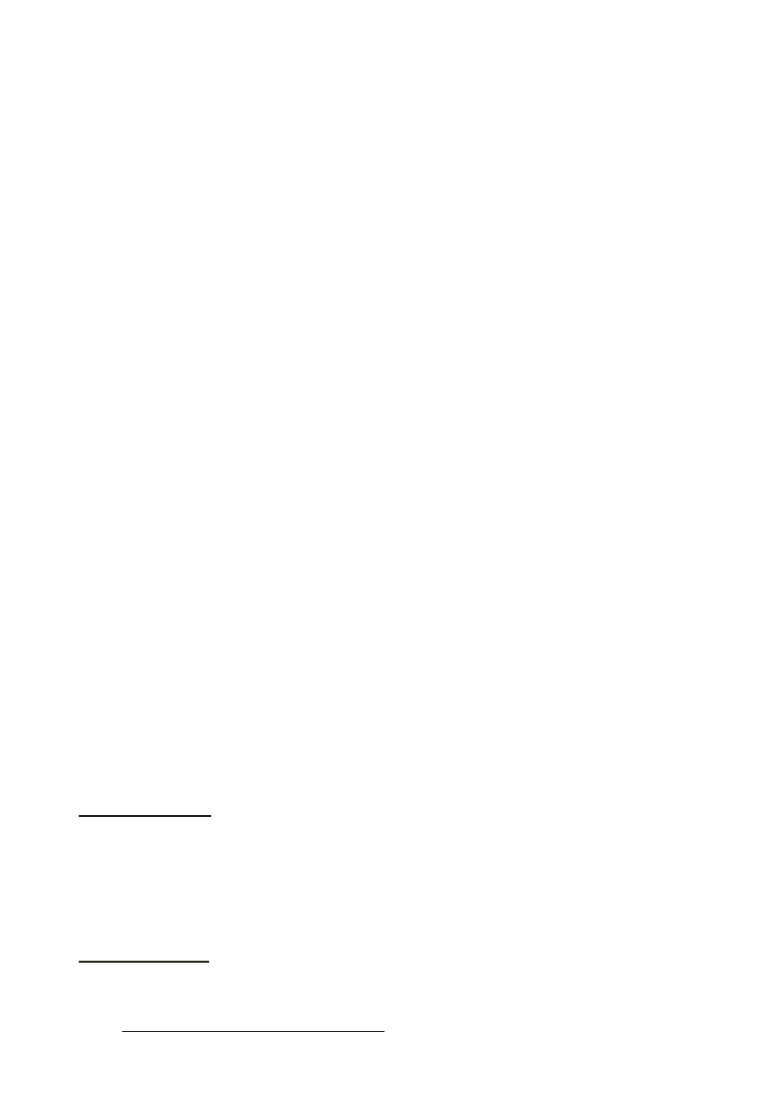
R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 17, n. 66, p. 16 - 68, set - dez. 2014
32
efetivamente executório não se trata
. Afinal, não houve sequência de atos
conforme previsto na lei de execução fiscal, mas apenas uma
sequência de
atos atípicos
, que ficaram barrados na crise de instância da execução fiscal.
A citação do devedor não precisa ser definida como o termo es-
pecífico da interrupção da prescrição. É possível, assim como pensou o
legislador, que seja estipulado como o termo interruptivo da prescrição o
despacho do juiz ou mesmo o ajuizamento da demanda. Inclusive, o CPC
determina que a citação retrotrai os seus efeitos à data do ajuizamento
(art. 219, §1º c/c 263).
A interrupção da prescrição é um ato que toca ao direito material e
ao processo, pois a inércia é uma série de atos, de
agires
, que avança ao
largo de um procedimento. Daí se falar que o art. 174, parágrafo único,
I, do CTN, é
secundum eventum citationis
– a citação é uma condição de
possibilidade da interrupção da prescrição, a citação integra a ordem do
juiz que a ordenou, sendo um ato processual essencial à fase prelibató-
ria da execução fiscal. Se não existe uma citação, chega a ser impossível
pensar em uma execução, à medida que execução não existe, constrição
sobre um patrimônio jurídico não existe, sequer um processo existe.
2.2. A execução fiscal como uma relação jurídica processual
A compreensão do processo enquanto uma relação jurídica entre o juiz e
as partes respondeu pela autonomia científica do processo civil, separan-
do-o definitivamente do direito material (desde o século XIX). O Código de
Processo Civil, de 1973, é um reflexo vivo dessa matriz jurídica, comum ao
panorama cultural então vigente no Brasil.
O CPC de 1973 não se preocupou em aproximar o processo à rea-
lidade do direito material. A grande questão da época de sua formulação
era reforçar a independência dogmática do processo civil, com o alvitre de
o elevar a uma estrutura não
32
ideológica e, sobretudo, tecnicista
33
.
32 Inúmeros dispositivos originariamente positivados no CPC demonstram a solução de compromisso de “não-es-
pecificidade” adotada pelo CPC/73: o Código de Processo Civil tendeu a unificar os procedimentos em modalidades
ordinárias e alheias ao direito material, com raros casos de “processos especiais”; o juiz deveria ser neutro, um juiz não
ativo; os meios executórios (inclusive os meios probatórios) se pautavam pelo princípio da tipicidade, daí sacralizando
um formalismo excessivo; as eficácias das sentenças se fungibilizaram ao denominador comum da sentença condena-
tória, vigorando a teoria ternária para obsessivamente classificar as sentenças e não as espécies de tutela jurisdicional;
o procedimento não abria possibilidade real à antecipação da tutela e refutava o sincretismo, existia um momento
prévio para o conhecimento e uma fase posterior para a execução. Entre outros exemplos, em sua feição genética, o
CPC/73 manteve afastado o processo civil do direito material; daí retratando a era da técnica processual.
33 A referência à metodologia denominada de “processualista, tecnicista, ou conceitualista” reflete a posição que,
desde o iluminismo, alavancou o processo a uma posição de autonomia em relação ao direito material, mas também