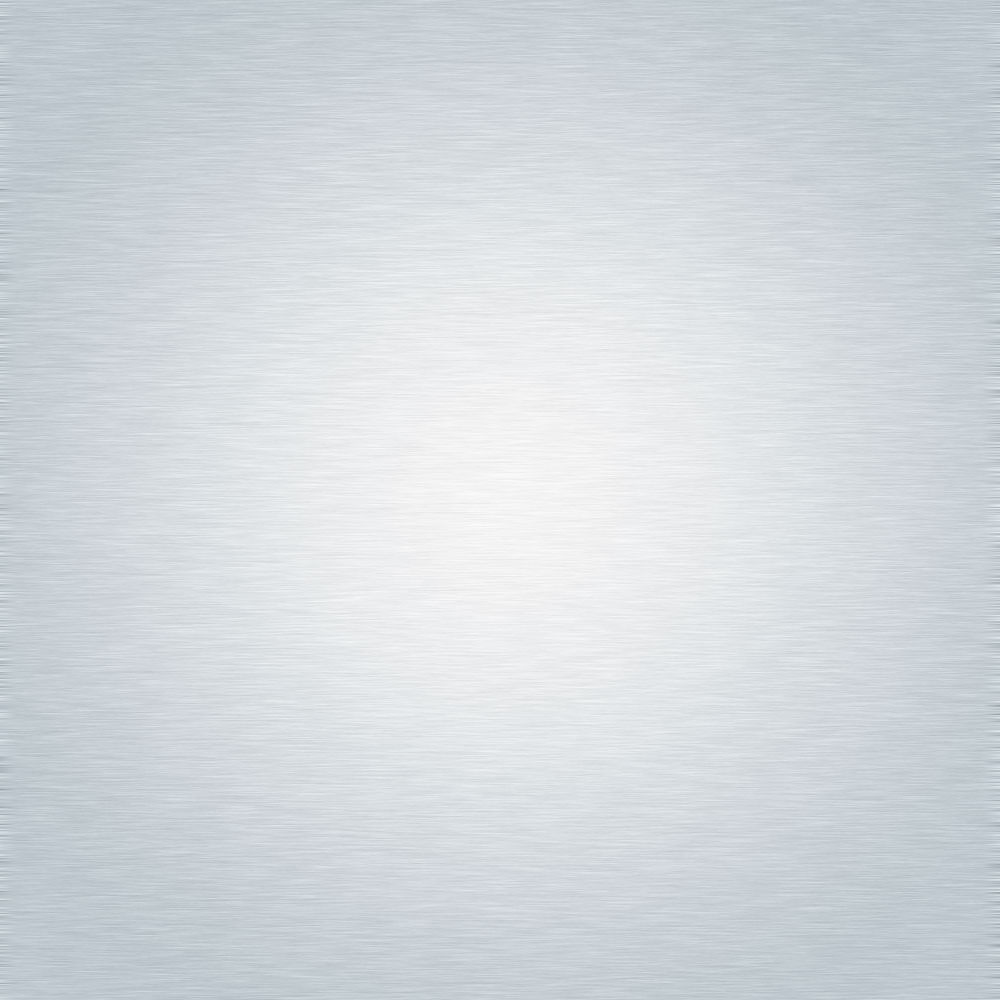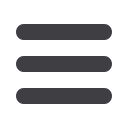

R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 4, p. 177 - 190, Setembro/Dezembro. 2017
182
camente, não havendo qualquer tipo de sanção prevista para as
hipóteses de descumprimento. De certa forma, permanecem in-
viabilizando milhares de mulheres de serem mães por este aces-
so, cerceando seus direitos de escolha, ao estabelecer diversas
normas restritivas, podendo-se citar as seguintes: só podem ce-
der o útero quem for parente consanguíneo até o quarto grau;
a idade máxima das candidatas à gestação passa a ser de 50
anos, mas há possibilidade de exceções desde que determinada
pelo médico; a idade limite para a doação de gametas (óvulos/
espermatozoides) é de 35 anos para a mulher e de 50 para o
homem; além disso, veda-se a onerosidade do ato (MOREIRA;
CABRAL; ZAGANELLI, 2016, p. 8).
A limitação do uso da técnica somada ao contexto social e suas mu-
danças, cada vez mais céleres, fazem com que haja a imperiosa necessidade
de se regulamentar essas relações sociais, pois, no que se refere à gestação em
útero alheio, ainda não há por parte da legislação pátria alguma regulamen-
tação específica a respeito, trazendo à realidade uma lacuna legal que pode
ser conceituada como vazio legislativo. No dizer de Krell (2006), a gestação
em útero alheio não encontra disciplina específica no Brasil, quer em rela-
ção a sua permissibilidade ou não, quer com relação a quem seria a mãe da
criança, após o advento dessa prática.
As polêmicas acerca do útero de substituição ainda estão presentes na
realidade brasileira, existindo até quem defenda a nulidade do contrato de
conteúdo pecuniário. Gonçalves (2012, p. 26) esclarece que “realmente, sem
lei específica regulamentando a prática da mãe de substituição no Brasil, não
há outra solução a não ser considerar nulo qualquer contrato que atribua
valores pecuniários à cessionária do útero”.
Outro ponto de discussão seria a respeito de quem seria considerada a
mãe da criança, para fins de Direito. O pensamento outrora enraizado na le-
gislação era de que a maternidade seria sempre certa, sendo que o assento de
nascimento do recém-nascido deveria conter o nome da mulher hospedeira
e não o daquela que idealizou o projeto parental ou, até mesmo, daquela que
doou o material genético, caso tenha havido a necessidade da participação
de uma terceira mulher no acordo.
Entretanto, para relativizar essa ideia de que a maternidade é sempre
visível aos olhos, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou em