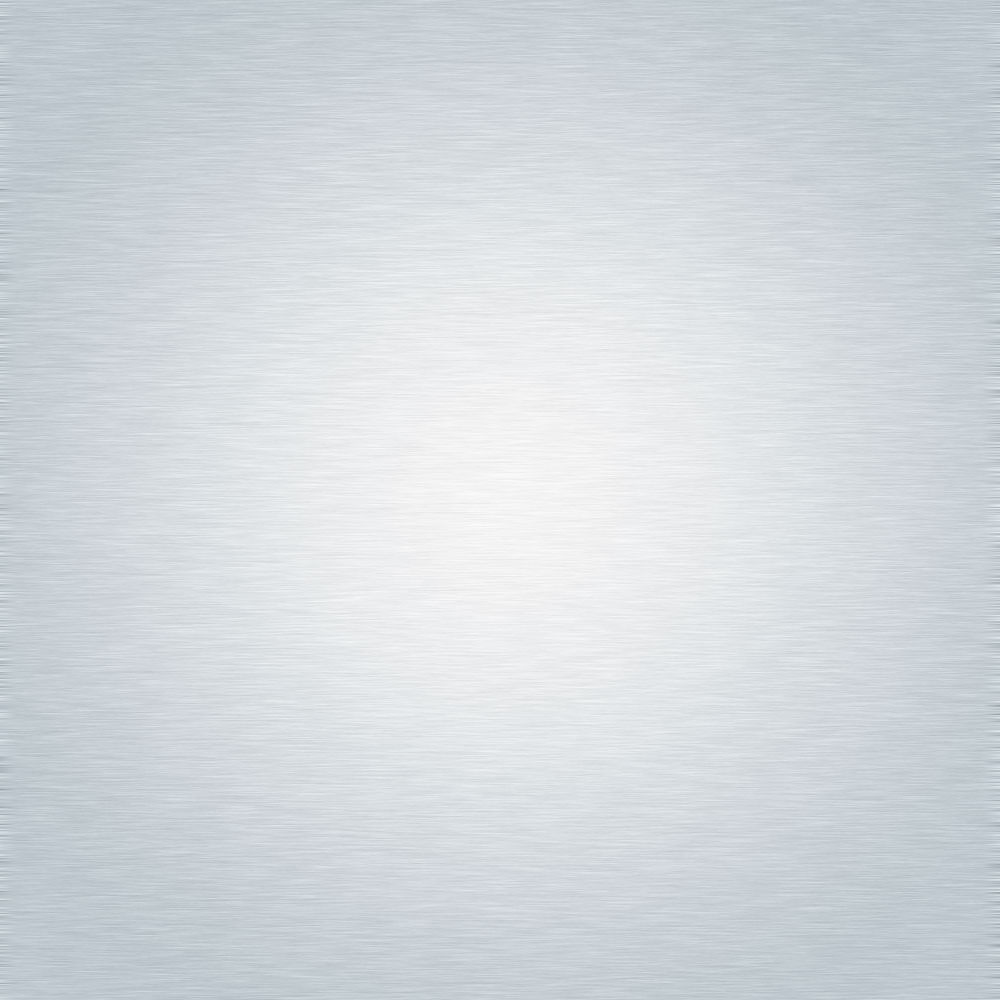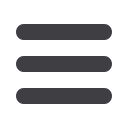
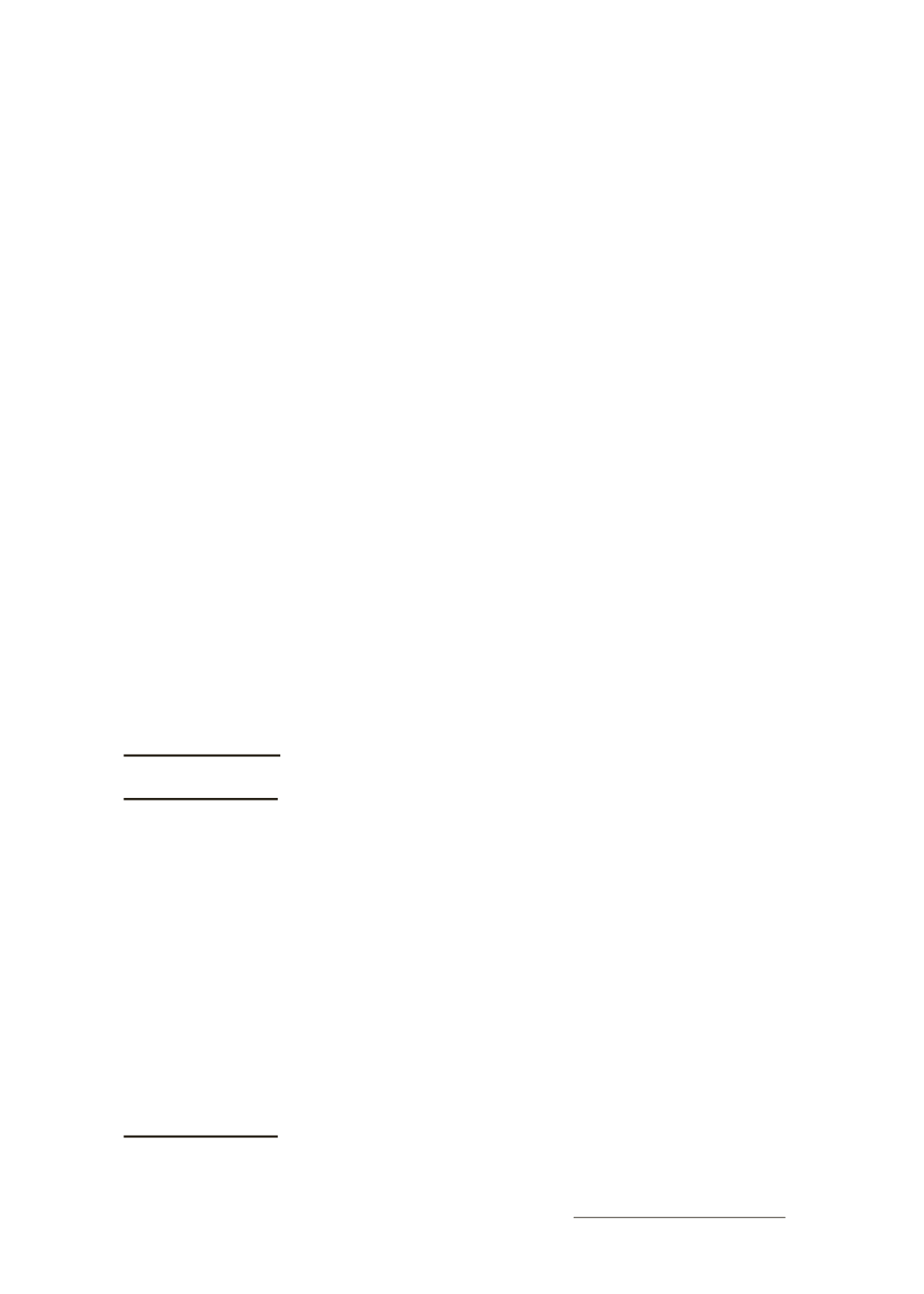
157
R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 4, p. 137 - 160, Setembro/Dezembro. 2017
de do casamento, não há que se estendê-las às entidades fami-
liares extramatrimoniais. Quando informadas por princípios
próprios da convivência familiar, vinculada à solidariedade dos
seus componentes, aí, sim, indubitavelmente, a não aplicação
de tais regras contraria o ditame constitucional.
44
Dessarte, reside na formalidade intrínseca à formação do casamento
e ausente na da união estável a chave para a compreensão da celeuma. As
distinções normativas cuja teleologia possa ser reconduzida à solenidade do
ato originário estarão em consonância com o ordenamento, enquanto aque-
las que se justifiquem nos laços familiares formados entre companheiros ou
cônjuges devem ser rechaçadas pelo intérprete
45
. Ora, não pairam dúvidas
quanto à inserção das regras que estabelecem a vocação hereditária no âmbi-
to da sucessão legítima nesse segundo grupo, tratando-se de “normas que são
informadas pelos princípios próprios da convivência familiar, vinculadas ao
dever de solidariedade existente entre os componentes da família”
46
.
Companheiro e cônjuge desempenham rigorosamente o mesmo pa-
pel no seio do grupamento familiar, sendo impossível determinar, sem uma
consulta ao registro civil de pessoas naturais, se se está diante de uma ou
outra figura. Daí a injustiça de se conferir, após a morte de um dos mem-
bros do casal, tratamentos distintos para quem exerceu a mesma função em
vida. Apenas nos casos em que essa “consulta” for relevante será possível a
aplicação de regras distintas.
44 TEPEDINO, Gustavo. “Novas Formas de Entidades Familiares: efeitos do casamento e da família não fundada no
matrimônio”. In: TEPEDINO, Temas de Direito Civil, op. cit., p. 408.
45 Esse critério de distinção precisa ser bem compreendido, de modo a evitar equívocos na delimitação dos seus efeitos
sobre o regime jurídico da união estável. Nessa esteira, não parece ser a melhor a leitura feita por José Fernando Simão
sobre o conteúdo da decisão do STF, ao afirmar que: “Da leitura do voto do Ministro Barroso percebe-se uma linha con-
dutora. Só é constitucional a diferença quando da
criação, comprovação e extinção,
logo, em termos de efeitos, união estável e
casamento não podem ser diferenciados, sob pena de arbitrariedade e consequente inconstitucionalidade” (SIMÃO, José
Fernando. E então o STF decidiu o destino do artigo 1.790 do CC? (parte 2). Disponível em:
<http://www.conjur.com.
br/2016-dez-25/processo-familiar-entao-stf-decidiu-destino-artigo-1790-cc-parte>. Acesso em 16.06.2017). O que efeti-
vamente se extrai do voto do Ministro Barroso é o seguinte: “Desse modo, a diferenciação de regimes entre casamento e
união estável somente será legítima quando não promover a hierarquização de uma entidade familiar em relação à outra.
Por outro lado, se a diferenciação entre os regimes basear-se em circunstâncias inerentes às peculiaridades de cada tipo
de entidade familiar, tal distinção será perfeitamente legítima. É o caso, por exemplo, da diferença quanto aos requisitos
para a comprovação do casamento e da união estável”. Não existe, portanto, vedação à diferenciação quanto aos efeitos,
desde que esta se justifique pela formalidade da entidade familiar. Um bom exemplo é a exigência de autorização do outro
cônjuge para a prática de determinados atos de disposição patrimonial, efeito do casamento que, segundo José Fernando
Simão, deveria ser estendido à união estável, caso aplicada a lógica adotada pelo STF. No entanto, como esclarece Ander-
son Schreiber: “a exigência de outorga uxória ou marital (contemplada no art. 1.647) é consequência que se vincula neces-
sariamente à chancela prévia do Estado, pois se afigura impossível saber se o alienante vive ou não em união estável, mo-
dalidade familiar que, repita-se, é de constituição fática e progressiva. A exigência de outorga uxória ou marital aplica-se,
portanto, ao casamento, mas não à união estável” (SCHREIBER, União Estável e Casamento: uma equiparação?, op. cit.).
46 NEVARES, Ana Luiza Maia. A Sucessão do Cônjuge e do Companheiro na Perspectiva do Direito Civil-Constitucio-
nal. 2. ed. São Paulo: Atlas. 2015. p. 148.