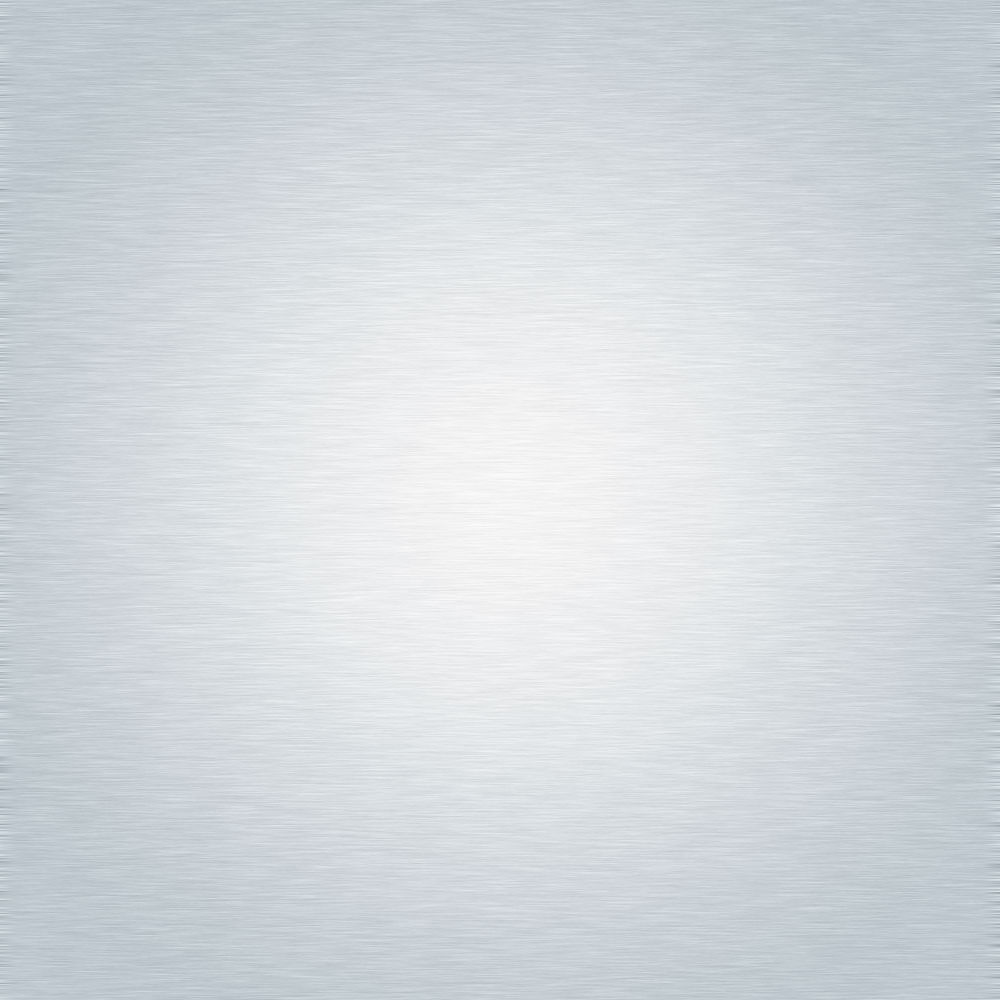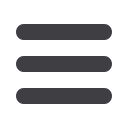
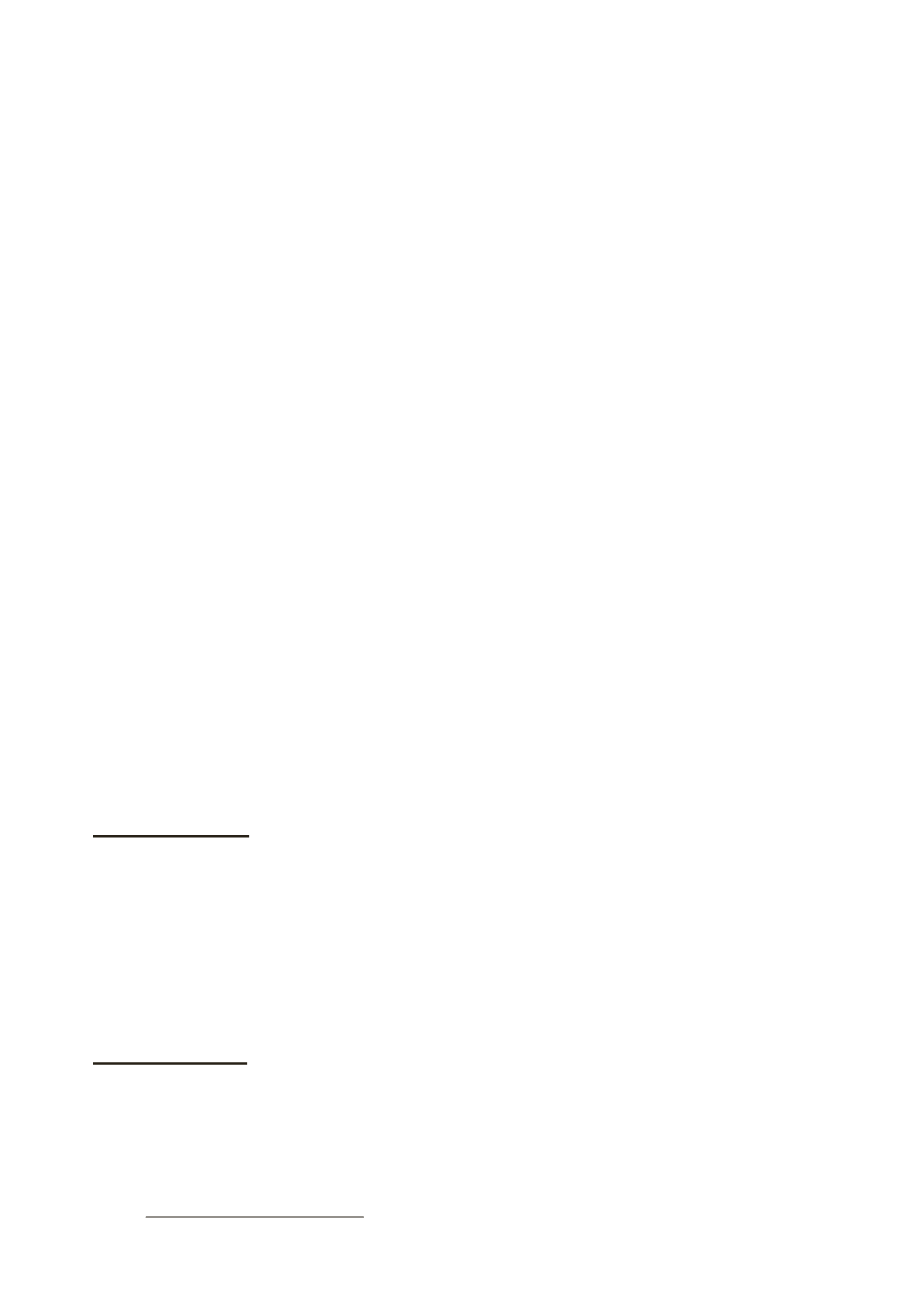
146
R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 4, p. 137 - 160, Setembro/Dezembro. 2017
surgir. Além da usual dificuldade envolvida na intepretação por leigos dos
preceitos legais, em razão do caráter técnico dos textos jurídicos, a ambigui-
dade na redação dos enunciados contidos nos artigos 1790 e 1829 enseja
intensas divergências na doutrina e na jurisprudência, criando um dificulta-
dor adicional para quem eventualmente desejar planejar sua sucessão
15
. Na
prática, portanto, apenas quem puder consultar um advogado especialista
será capaz de ponderar os efeitos sucessórios do modo de constituição de
família. Em nosso contexto social, essa não é uma possibilidade real para a
grande maioria da população.
Ademais, mesmo que a distinção de regimes seja do conhecimento
das partes (e que elas sejam capazes de compreendê-los), é possível que outros
fatores sejam considerados pelo casal como de maior peso nessa decisão.
Convicções político-filosóficas refratárias a exigências burocráticas ou mes-
mo à necessidade de chancela estatal a decisões afetivas podem ser decisivas
na opção do casal pela união estável, preponderando sobre as considerações
de ordem patrimonial.
Nessa linha, em um cenário normativo no qual o regime sucessório do
companheiro, de modo geral, é tão desfavorecido em relação ao do cônjuge
16
,
é mais plausível supor que os casais conhecedores do regramento legal optam
pela união estável
apesar
dos seus efeitos jurídicos, e não
em razão
deles.
Não se está a afirmar, insista-se, que não existam casais (em geral, pes-
soas de melhor condição econômica, com a possibilidade de consultar um
advogado para auxiliá-los nessa decisão) que escolham constituir suas famí-
lias em união estável justamente para se submeterem à disciplina do artigo
1790. Todavia, em uma realidade social na qual mais de um terço dos casais
15 “Daí a importância de que o Direito das Sucessões não crie obstáculos adicionais, exprimindo-se sempre por normas
claras e objetivas. Qualquer dúvida de interpretação dá margem ao surgimento de desacordos, que se mostram de difícil
solução em um momento em que os ânimos das partes se encontram à flor da pele, por força da perda dolorosa de
um ente querido, não raro o elemento unificador daquela família. O Código Civil brasileiro de 2002 desviou-se dessa
importante premissa, trazendo muitas normas de redação ambígua, que suscitam dúvidas para os intérpretes no campo
sucessório. (...) Cenários assim tão fragmentados, que poderiam se mostrar instigantes em outros campos do Direito,
revelam-se devastadores no campo das Sucessões, onde a ausência de uma diretriz clara acaba elevando a conflituosidade
post mortem
e dificultando mesmo a disposição dos bens em vida, tendo se tornado cada vez mais frequente na prática
advocatícia a elaboração de testamentos com cláusulas condicionadas à interpretação prevalente das normas jurídicas. O
Direito das Sucessões deixa, assim, de ser baliza, para se tornar complicador” (SCHREIBER, Anderson. Sucessão do
Companheiro no STF. Disponível em:
<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/sucessao-do-companheiro-no-stf/ 17095>. Acesso em 16.06.2017).
16 Cite-se, para além da questão da ordem de vocação, o fato de o Código não reconhecer expressamente os companhei-
ros como herdeiros necessários (art. 1845) e a eles não estender o direito real de habitação (art. 1831). É verdade que algu-
mas dessas discriminações legais têm sido objeto de uma hermenêutica corretiva por parcela da doutrina (cf. Enunciado
117 da I Jornada de Direito Civil do CJF: “O direito real de habitação deve ser estendido ao companheiro, seja por não ter
sido revogada a previsão da Lei n. 9.278/96, seja em razão da interpretação analógica do art. 1.831, informado pelo art.
6º, caput, da CF/88”), mas a matéria está longe de ser pacífica.