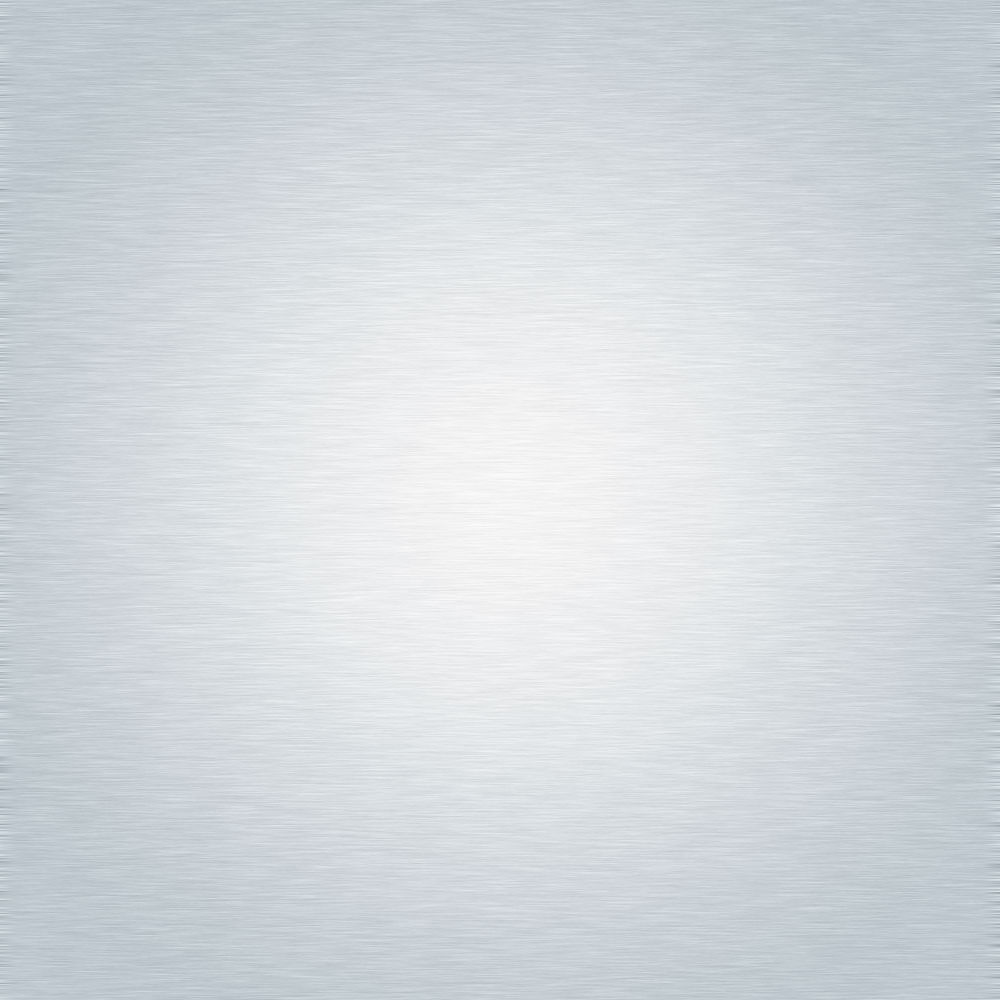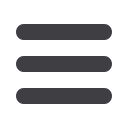

145
R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 4, p. 137 - 160, Setembro/Dezembro. 2017
sucessórias aplicáveis não significa necessariamente que este seja um aspecto
relevante da decisão tomada.
Aliás, para que esse fator sequer seja considerado, ele precisa ser ante-
riormente conhecido pelo casal, o que não parece ser a regra na nossa reali-
dade social. No imaginário popular, a união estável acaba sendo equiparada
a um “casamento de fato”, especialmente em razão da unidade funcional
entre os institutos, intuitivamente percebida mesmo por quem não possui
formação jurídica: uma vez configurados, ambos dão origem a uma família,
assim reconhecida pelo Direito. Quem já tentou explicar a um leigo que a
situação de duas pessoas que vivem como se casadas fossem, são socialmente
percebidas como casadas e são juridicamente vinculadas (assim como as pes-
soas casadas), configura, em verdade, uma união estável, e não um casamen-
to, fatalmente experimentou a frustração de ter suas considerações liminar-
mente rejeitadas pela convicta afirmação de que “eles estão é casados sim!”
A confusão é potencializada pela identidade do regime de bens su-
pletivo, que tanto na união estável como no casamento é o da comunhão
parcial de bens (arts. 1640 e 1725 do CC). No momento da constituição da
família, é natural que as atenções recaiam sobre o regime de bens, relegando
a um segundo plano cogitações acerca dos efeitos sucessórios
14
, ou mesmo
presumindo que, sendo iguais os efeitos patrimoniais quanto ao regime de
bens, o mesmo se daria em relação à sucessão
causa mortis
.
Não se pode desconsiderar, ainda, o não raro cenário no qual a deci-
são de constituir família é tomada sem qualquer reflexão prévia quanto aos
aspectos patrimoniais envolvidos, seja em razão do fato de o casal não pos-
suir um acervo patrimonial expressivo, seja por reputar “mesquinho” pensar
em dinheiro em um momento no qual o afeto deveria prevalecer.
Ainda que se trate de casal precavido, atento aos potenciais reflexos
de suas escolhas existenciais sobre seu patrimônio, e que deseje investigar as
consequências sucessórias do modelo de família que adotarão, o direito po-
sitivo brasileiro não contribui para o esclarecimento das dúvidas que podem
14 O que pode ser explicado, em parte, pela tendência humana de evitar pensar na própria morte: “Quando retrocedemos
no tempo e estudamos culturas e povos antigos, temos a impressão de que o homem sempre abominou a morte e, pro-
vavelmente, sempre a repelirá. Do ponto de vista psiquiátrico, isto é bastante compreensível e talvez se explique melhor
pela noção básica de que,
em nosso inconsciente, a morte nunca é possível quando se trata de nós mesmos. É inconcebível para o inconsciente
imaginar um fim real para a nossa vida na terra
e, se a vida tiver um fim, este será atribuído a uma intervenção maligna fora de
nosso alcance. Explicando melhor, em nosso inconsciente só podemos ser mortos; é inconcebível morrer de causa natural
ou de idade avançada. Portanto,
a morte em si está ligada a uma ação má, a um acontecimento medonho
, a algo que em si clama
por recompensa ou castigo” (KÜBLER-ROSS, Elisabeth. Sobre a Morte e o Morrer: o que os doentes têm para ensinar
a médicos, enfermeiras, religiosos e aos seus próprios parentes. 7. ed. Tradução de Paulo Menezes. São Paulo: Martins
Fontes. 1996. p. 14. Grifou-se).