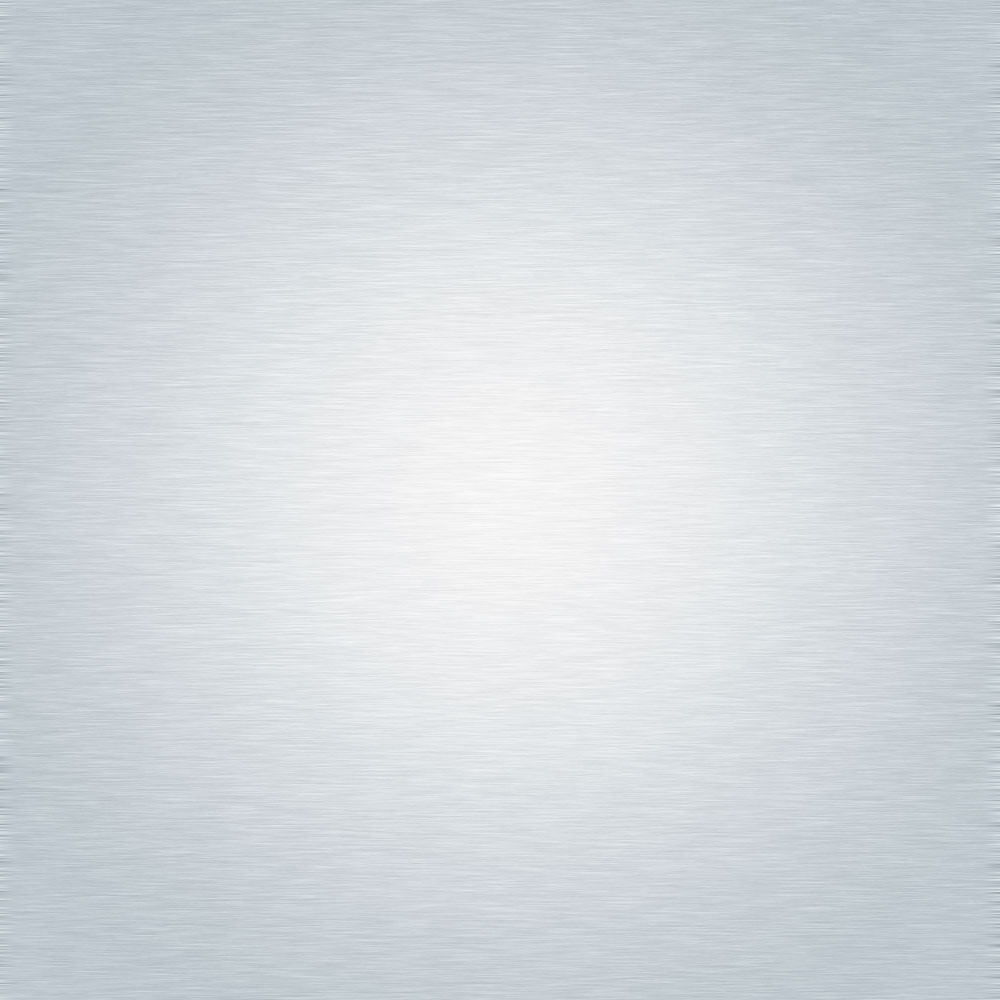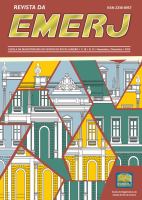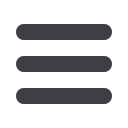
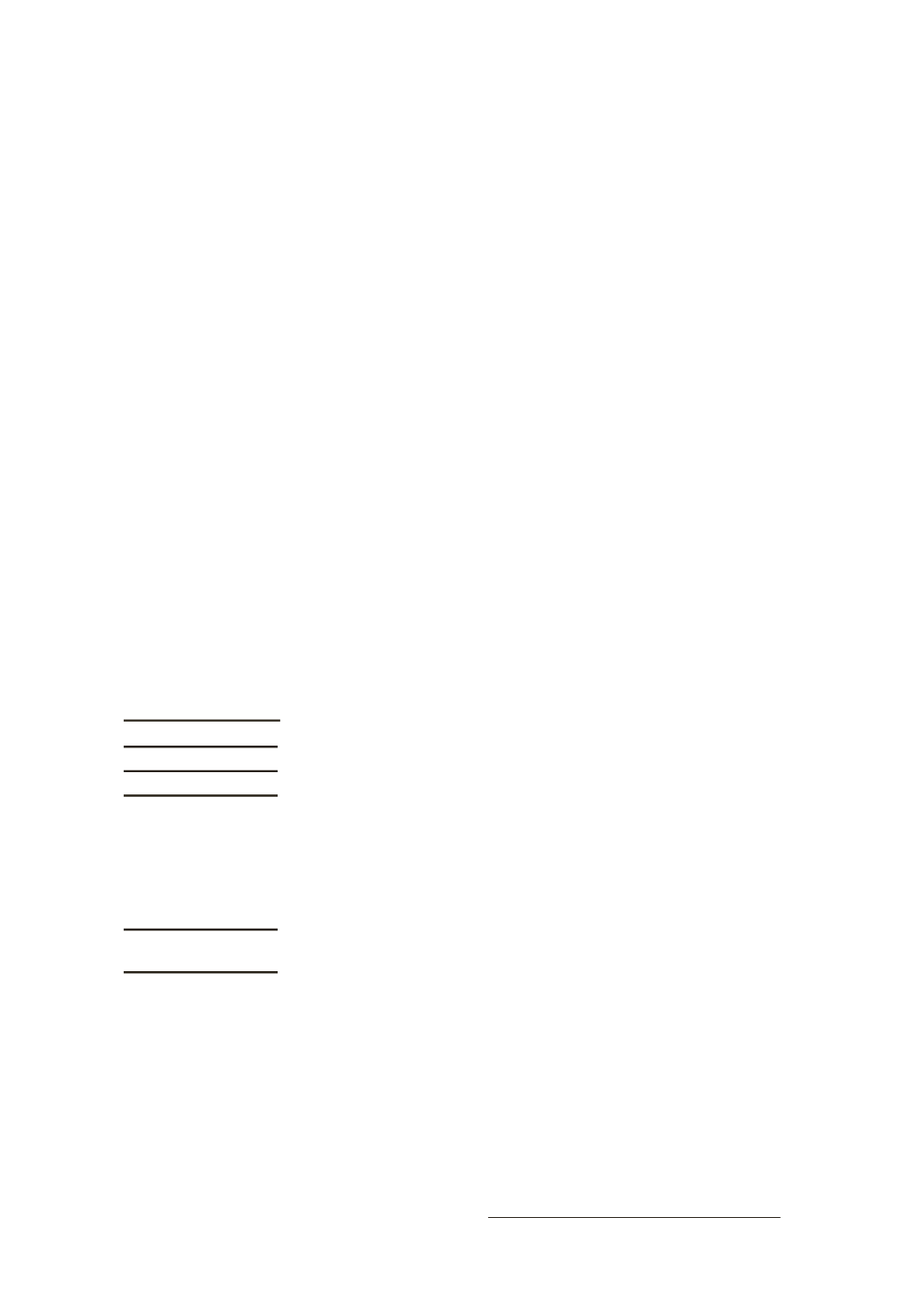
R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 18, n. 71, p. 159 - 186, nov. - dez. 2015
163
2. A BOA-FÉ E AS RELAÇÕES EMPRESARIAIS
A boa-fé objetiva teve sua gênese no âmbito das relações comer-
ciais. Ainda no mundo romano, no contexto das negociações mercantis,
a
fides
funcionava como catalisadora do conteúdo econômico dos con-
tratos, ao impôr a observância do concreto conteúdo dos interesses pac-
tuados
14
. Mesmo com a posterior subjetivação sofrida pelo instituto da
bona fides
ao longo da Idade Média
15
, a boa-fé permaneceu no substrato
cultural alemão por meio da jurisprudência comercial, atenta à dinamici-
dade e flexibilidade do direito comercial
16
. Não é demais relembrar que a
boa-fé objetiva ingressou no direito positivo brasileiro no corpo de Código
Comercial de 1850, ainda que o dispositivo que a consagrava tenha resta-
do sem aplicação
17
.
Apesar dessa conexão histórica, é no domínio das relações entre
empresários que mais se evidencia a necessidade de aprofundamento no
estudo dos efeitos da incidência da boa-fé. Não se pode admitir que boa-
-fé seja aplicada a tais relações da mesma forma que é aos contratos de
consumo
18
. Mister compreender as peculiaridades das obrigações empre-
sariais para, então, delimitar a eficácia da boa-fé sobre elas
19
.
14 MARTINS-COSTA, Judith.
A Boa-Fé no Direito Privado
,
op. cit.
, p. 117.
15 Ibidem, p. 110.
16 Ibidem, p. 209.
17 A primeira referência legislativa à boa-fé objetiva constava do Código Comercial de 1850, que assim dispunha:
“Art. 131 - Sendo necessário interpretar as cláusulas do contrato, a interpretação, além das regras sobreditas, será
regulada sobre as seguintes bases: 1 - a inteligência simples e adequada,
que for mais conforme à boa fé
, e ao ver-
dadeiro espírito e natureza do contrato, deverá sempre prevalecer à rigorosa e restrita significação das palavras”
(grifo nosso). O preceito, que trazia a boa-fé de forma muito mais restrita do que é empregada hoje, teve aplicação
insignificante pelos tribunais, como assinalam: TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. "A Boa-Fé Objetiva"...,
op. cit.
, p. 29-30.
18 Alertando para os riscos advindos da consumerização das relações empresariais: FORGIONI, Paula A..
Teoria
Geral dos Contratos Empresariais
, 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 34.
19 Na lição de Paula Castello Miguel: “Os contratos interempresariais exigem uma visão específica, a visão empresa-
rial, para que sejam compreendidos e interpretados” (MIGUEL, Paula Castello.
Contratos entre Empresas
. São Pau-
lo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 68). A posição possui a chancela da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
que, ao tratar sobre a aplicação da teoria da imprevisão aos contratos empresariais, assim se manifestou: “DIREITO
EMPRESARIAL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE COISA FUTURA (SOJA). TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE
EXCESSIVA. INAPLICABILIDADE. 1. Contratos empresariais não devem ser tratados da mesma forma que contratos
cíveis em geral ou contratos de consumo. Nestes admite-se o dirigismo contratual. Naqueles devem prevalecer os
princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória das avenças. 2. Direito Civil e Direito Empresarial, ainda
que ramos do Direito Privado, submetem-se a regras e princípios próprios. O fato de o Código Civil de 2002 ter
submetido os contratos cíveis e empresariais às mesmas regras gerais não significa que estes contratos sejam essen-
cialmente iguais” (STJ, 4ª T., REsp 936.741/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 03.11.2011).