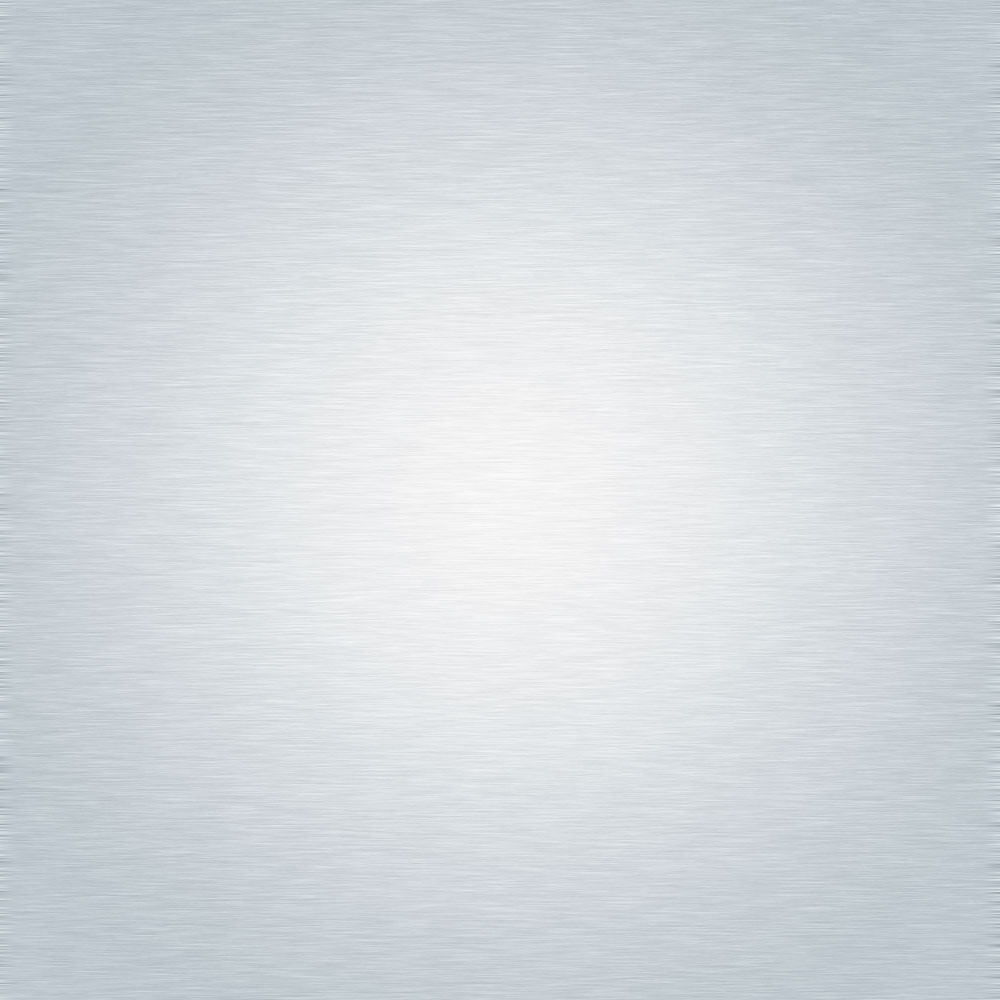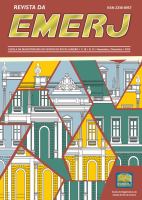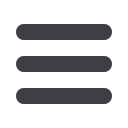
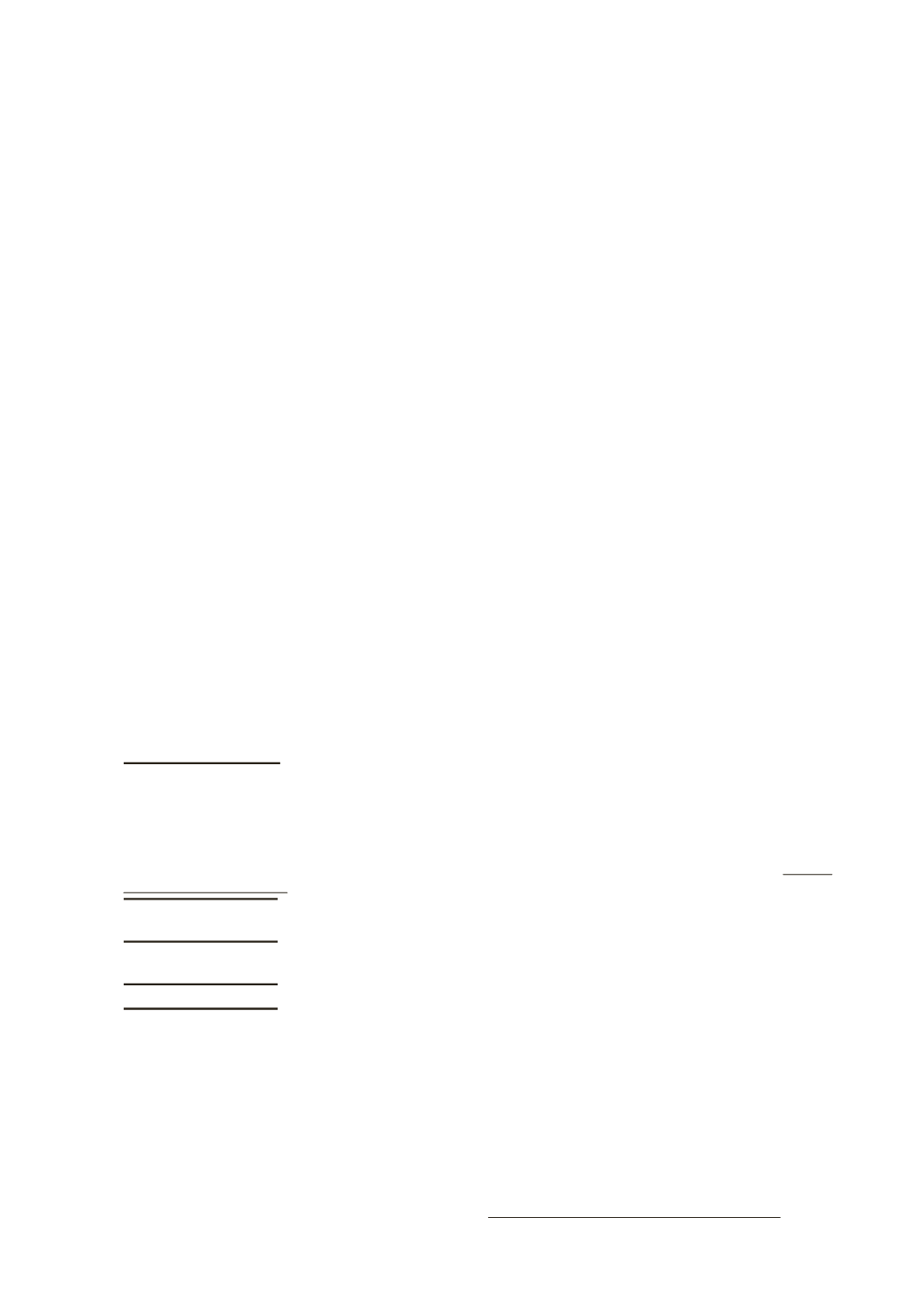
R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 18, n. 71, p. 159 - 186, nov. - dez. 2015
161
dade de normas é que se poderá construir o efetivo significado da condu-
ta leal e proba adequada àquele caso específico
6
.
O segundo fator a ser considerado é a atuação da boa-fé objetiva
como um
standard
jurídico. Um
standard
é um modelo objetivo de con-
duta, pautado, no caso da boa-fé, por valores como honestidade, lealdade
e probidade
7
.
A referência a modelos de conduta remete automaticamente a conhe-
cidas construções doutrinárias, como o “homem médio” e o “
bonus pater
familias
”. Contudo, mesmo enraizado na cultura jurídica brasileira, o recur-
so a tais modelos abstratos de comportamento tem sofrido severas críticas,
afirmando-se que sua unicidade e elevada generalização revelam-se inúteis
frente à multiplicidade das situações de fato
8
. A boa-fé objetiva não se repor-
ta a modelos abstratos de conduta, mas sim a modelos objetivamente cons-
truídos com atenção às particulares circunstâncias do caso concreto
9
. É essa
variação de
standards
de comportamento nas diversas relações que autoriza
o reconhecimento de uma eficácia diferenciada à boa-fé.
Na precisa afirmação de Gustavo Tepedino e Anderson Schreiber:
“a boa-fé objetiva não pode ser aplicada da mesma forma às
relações de consumo e às relações mercantis ou societárias,
pela simples razão de que os
standards
de comportamento
são distintos.”
10
6 Miguel Reale assinalava que “a adoção da boa-fé como condição matriz do comportamento humano, põe a exigên-
cia de uma ‘hermenêutica jurídica estrutural’, a qual se distingue pelo exame da totalidade das normas pertinentes
a determinada matéria. Nada mais incompatível com a ideia de boa-fé do que a interpretação atômica das regras
jurídicas, ou seja, destacadas de seu contexto. Com o advento, em suma, do pressuposto geral da boa-fé na estrutu-
ra do ordenamento jurídico, adquire maior força e alcance do antigo ensinamento de Portalis de que as disposições
legais devem ser interpretadas umas pelas outras” (REALE, Miguel.
A Boa-Fé no Código Civil
. Disponível em: <http://
www.miguelreale.com.br>. Acesso em: 06 jan. 2014).
7 MARTINS-COSTA, Judith.
A Boa-Fé no Direito Privado
: sistema e tópica no processo obrigacional. São Paulo: Re-
vista dos Tribunais, 2000, p. 411.
8 SCHREIBER, Anderson.
Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil
: da erosão dos filtros de reparação à diluição
dos danos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 39-41.
9 MARTINS-COSTA, Judith.
A Boa-Fé no Direito Privado
,
op. cit.
, p. 412-413.
10 TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. "A Boa-Fé Objetiva no Código de Defesa do Consumidor e no Novo Có-
digo Civil."
In:
TEPEDINO, Gustavo (coord.).
Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional
. Rio de Janeiro: Re-
novar, 2005, p. 43. No mesmo sentido, a lição de Antônio Junqueira de Azevedo: “Naturalmente, há várias determina-
ções possíveis, segundo o tipo de área de atividade ou de negócios que as partes estão fazendo. Já nas Ordenações do
Reino se prescrevia que quem compra cavalo no mercado de Évora não tem direito aos vícios redibitórios. Os
standards
variam. Se um sujeito vai negociar no mercado de objetos usados, em feira de troca, a boa-fé exigida do vendedor não
pode ser igual à de uma loja muito fina, de muito nome, ou à de outro negócio, em que há um pressuposto de cuidado”
(JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antônio. "Insuficiências, deficiências e desatualização do Projeto de Código Civil na questão
da boa-fé objetiva nos contratos."
Revista Trimestral de Direito Civil
. Rio de Janeiro: Padma, v. 1, jan./mar., 2000, p. 4).