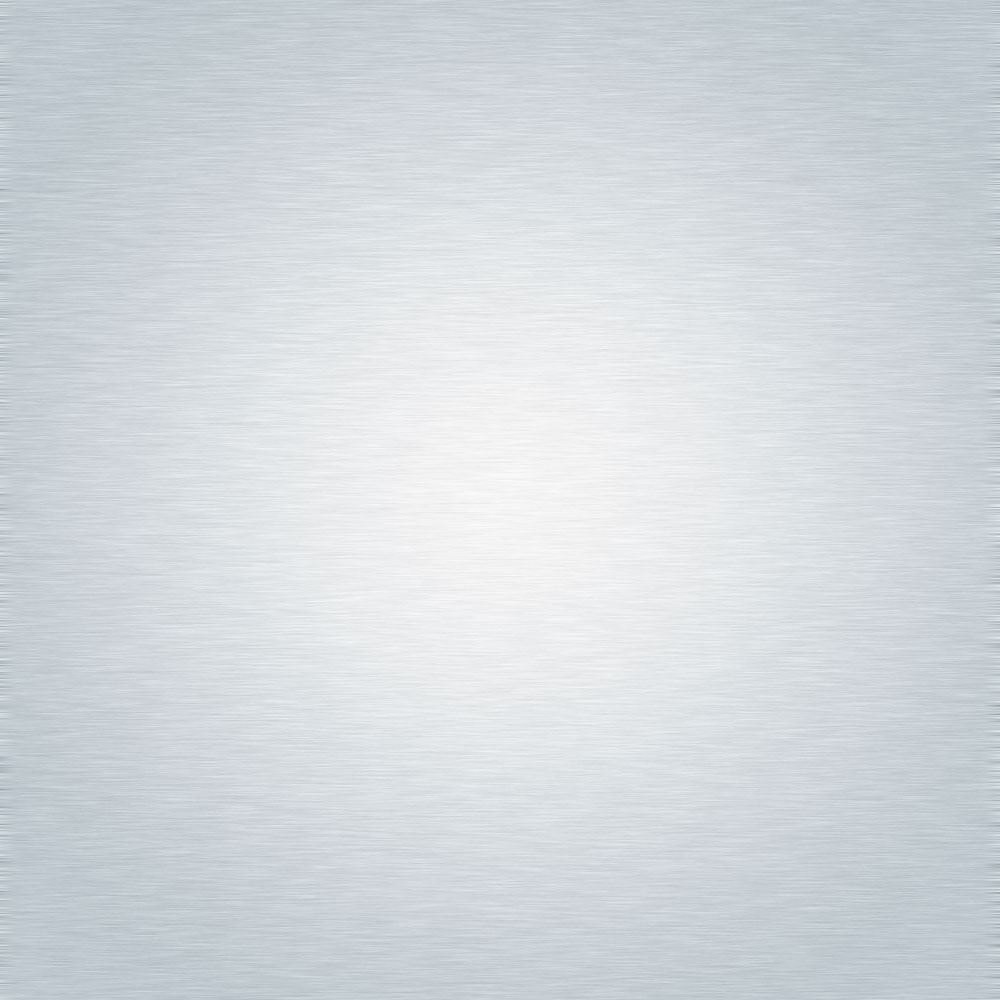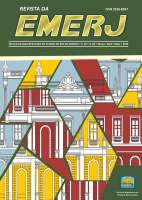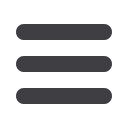

R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 18, n. 68, p. 28-59, mar. - mai. 2015
30
INTRODUÇÃO
A Lei 6.830/80 “dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da
Fazenda Pública e dá outras providências”, segundo expresso em seu pre-
âmbulo. Logo no art. 1º, a LEF estabelece que “a execução judicial para
cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiaria-
mente, pelo Código de Processo Civil”.
Entretanto, nem tudo o que uma lei denomina de “judicial” consis-
te em um ato “jurisdicional” típico
1
. No atual quadrante constitucional, a
observação da essência das coisas jurídicas é fundamental para o manejo
das próprias consequências normativas. Vale dizer que não é a nomen-
clatura determinada pela lei que estipula a sorte do evento da “judiciali-
zação” ou da “jurisdicionalização” de algo, assim como não basta atribuir
a nota de “cobrança judicial” a uma execução para, assim, resolver-lhe
todos os percalços procedimentais.
A tutela jurisdicional é um momento de ponderação, que supera a
mera terminologia. Por sua vez, a execução fiscal (ou a
cobrança judicial
da dívida ativa da Fazenda Pública
) é um desdobramento da tutela juris-
dicional que merece uma peculiar atenção, pois, a depender da natureza
jurídica que lhe for atribuída a tal evento, ela enfrenta uma série de crises
existenciais ao largo da existência do próprio processo. A tutela verticaliza
a deontologia do processo. Daí a importância de analisar a lei de regência
da execução fiscal não somente pelo fato de ela estabelecer um procedi-
mento truncado, um procedimento repleto de incidentes e permeado de
atos processuais arraigados a um formalismo excessivo, mas, sobretudo
verificar de “onde” advieram tais crises e intercorrências.
A apertada pesquisa tenta identificar alguns acidentes de percurso
da execução fiscal, ou seja, determinadas situações que acabam emper-
rando ou obstando uma
execução propriamente dita
. Levanta-se a tese de
que o manuseio da execução fiscal, em grande parte do seu trâmite, pode
ser tudo em termos de “cognição”, mas não pode ser considerada uma
execução no sentido de constrição judicial do patrimônio do devedor,
uma execução em termos concretos. O desencontro entre a denominação
atribuída a esse processo e o seu respectivo conteúdo é o responsável
pelo movediço destino.
1 Basta examinar um “acordo” das partes celebrado em juízo: trata-se de um ato “processualizado”, mas
não é um
ato tipicamente jurisdicional
(o que justifica a aplicação do art. 486 do CPC).