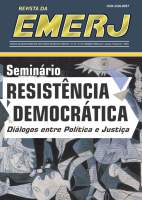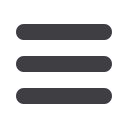

R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 18, n. 67, p. 231 - 242, jan - fev. 2015
237
da América. Para proporcionar legitimidade ao domínio ocidental, os meios
de comunicação ainda difundem as velhas visões dos árabes “[...] como li-
bertinos montados em camelos, terroristas, narigudos e venais cuja riqueza
não merecida é uma afronta à verdadeira civilização” (SAID, 1990, p. 117).
Não é diferente a propaganda favorável às chamadas reformas ne-
oliberais na América Latina e na Europa, realizadas em nome da
moder-
nização
das economias dos respectivos países.
Pouco importa, para a
grande mídia, o quanto essas reformas ampliam o fosso existente entre as
condições de vida das classes dominantes e das classes oprimidas, valen-
do apenas a difusão da
utopia conservadora
do capital (SANTOS, 2007, p.
54), no sentido de impedir o advento de qualquer outra possibilidade que
não a do neoliberalismo.
Por não haver alternativa, não se tolera aqueles que possam ofere-
cer alguma outra opção ao sistema prevalente. As demandas dos grupos
subalternos que atingem o capital são, então, excluídas, repreendidas ou,
até mesmo, criminalizadas: “a propaganda está para a democracia assim
como o cassetete está para o Estado totalitário”, afirma Noam Chomsky
(2003, p. 19). A intolerância midiática moderna alcança, então, o poder
punitivo do Estado, cuja derradeira palavra cabe ao Judiciário.
5. O Judiciário na modernidade
É dessa circunstância que se pode estabelecer uma relação entre
a propaganda dos meios de comunicação e a atividade jurisdicional do
Estado. Trata-se, porém, de vínculo que veio a intensificar-se somente em
tempos relativamente recentes.
De fato, nos primeiros anos de construção teórica do paradigma da
modernidade, ao Judiciário foi concedida importância mínima. Na obra
de Rousseau (2002, p. 28), por exemplo, não há referência à atividade
jurisdicional do Estado, limitando-se o autor a considerar o que entendia
como os dois móbiles do corpo político: a força (o Executivo) e a vontade
(o Legislativo). Em Hobbes (1979, p. 61), por seu turno, uma divisão na
atividade estatal sequer era cogitada, já que a segurança dos indivíduos
exigia a concentração de poder.
A ideia de um Judiciário como função autônoma do Estado apare-
ceu em Montesquieu (1973, p. 157), cuja obra
O Espírito das Leis
teve in-