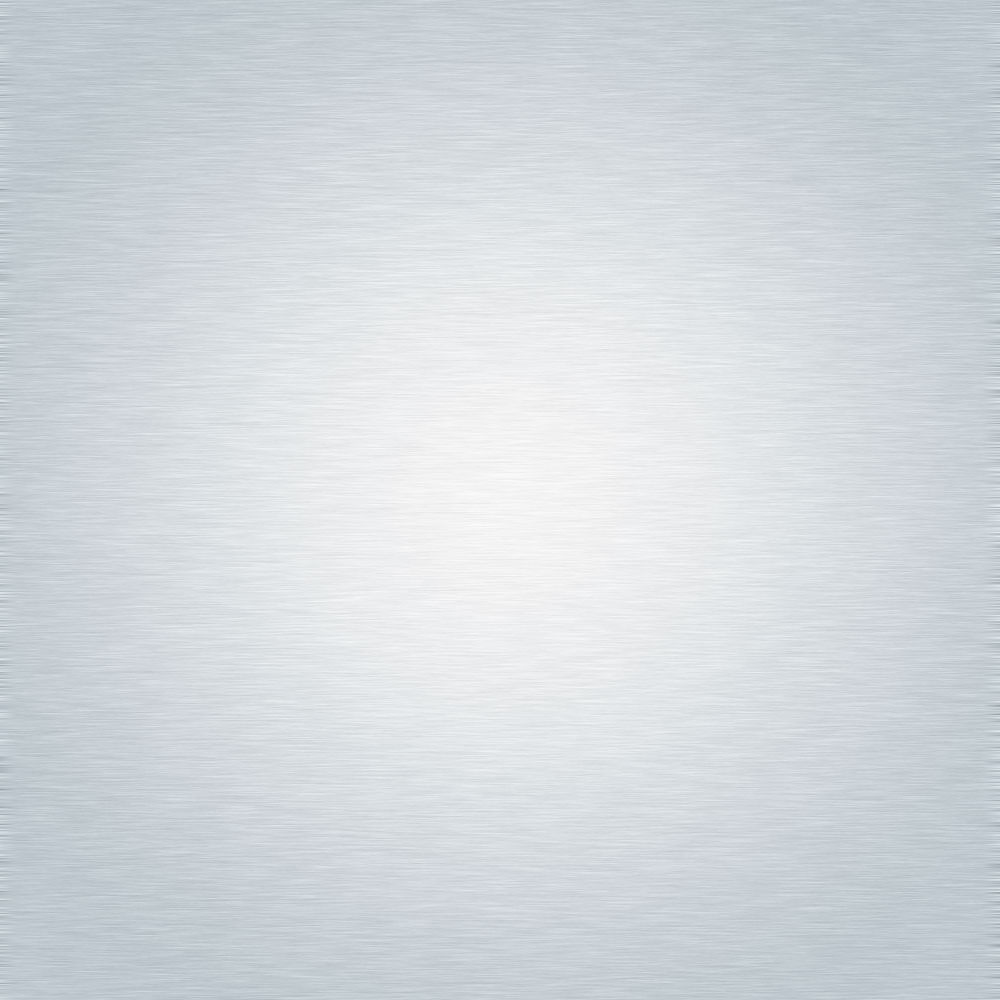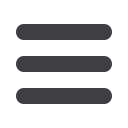
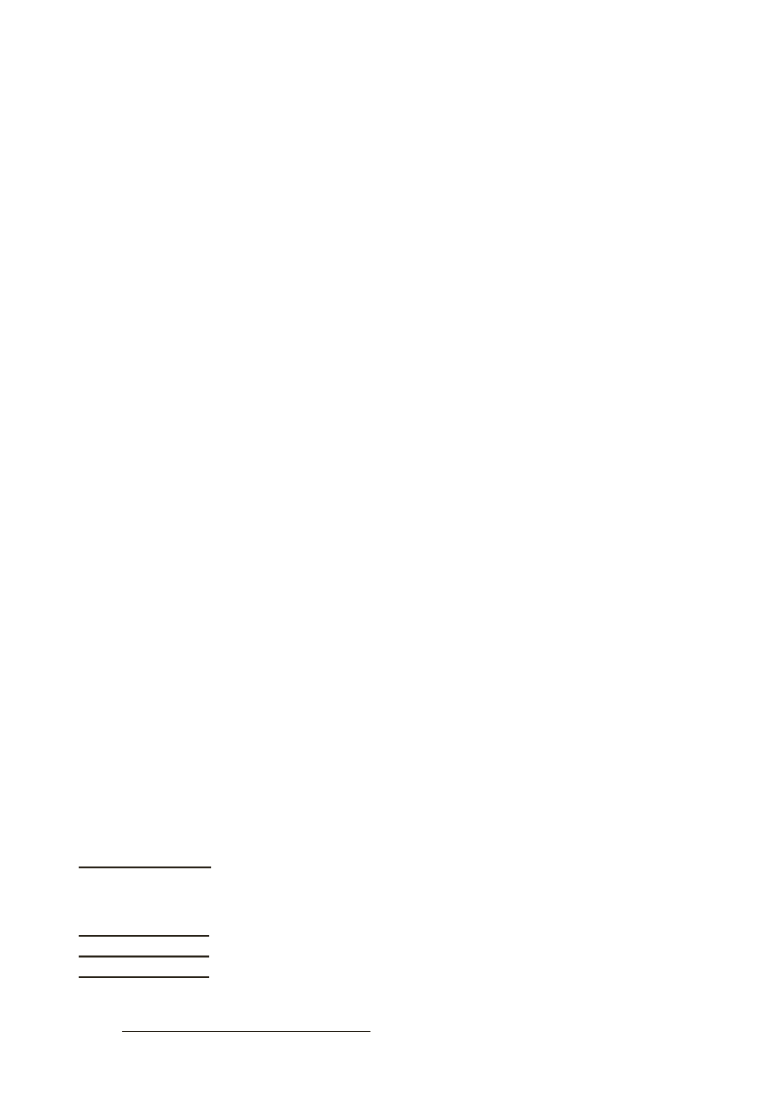
R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 17, n. 66, p. 9 - 15, set - dez. 2014
10
Talvez Sykes e Matza
2
tenham alguma razão em comparar os jovens
– estes são a grande maioria dos que se dedicam ao tráfico -, a barcos à
deriva, vacilantes ainda quanto à decisão de delinquirem ou não. Todavia,
a teoria da deriva, por eles proposta, também não oferece uma explica-
ção segura para o fenômeno. Sobretudo na atualidade, época de rápido
amadurecimento proporcionado pela difusão massiva de informações em
tempo real e pleno acesso à escolaridade.
Travis Hirschi
3
formula, em 1969, a teoria dos vínculos sociais, se-
gundo a qual a existência de liames afetivos com pessoas socialmente
ajustadas afastaria o jovem da delinquência. Uma vez mais, é parcialmen-
te verdadeira a afirmação. Todos conhecem casos de pessoas socialmente
integradas, com vínculos hígidos e duradouros de afetividade, mas que se
atiram, ainda assim, à criminalidade
4
.
Observadas de per si, as teorias da tensão, das subculturas ou con-
traculturas, das predisposições genéticas, do aprendizado e do etiqueta-
mento, nenhuma delas, a exemplo das outras já mencionadas, consegue ex-
plicar com precisão esperada o fenômeno do tráfico ilícito de entorpecentes.
Muito possivelmente porque, talvez, teorias sobre a economia ex-
pliquem a questão melhor do que teorias sobre a criminalidade. Isto em
razão de que o tráfico de drogas nada mais é do que uma atividade econô-
mica, comercial, que visa especialmente o lucro. Por uma circunstância de
política criminal, este comércio, assim como o contrabando e o descami-
nho, é ilícito e severamente punido. Mas não deixa de ser uma atividade
comercial. O comerciante adquire o produto por determinado preço e o
revende a outra pessoa por este mesmo preço, ao qual se acresce sua
margem de lucro. Tão somente isso.
Em alguma medida, as altas penas previstas para esta espécie de
delito deveriam servir como fator de dissuasão do agente. Forte em Bec-
caria
5
, afirma-se que um dos fins da pena é o de impedir que o agente
“cause novos danos aos seus concidadãos”, demovendo os demais de agi-
rem naquele determinado sentido. Tal não ocorre, entretanto. Muitos se
mostram vacilantes, quando não surpresos até, ao serem inteirados sobre
2 A teoria de Matza e Sykes rejeita as teorias que sugeriam que grupos de delinquentes criam seu próprio código
moral que apaga completamente o código moral social. Com essa análise, Matza e Sykes conseguiram explicar como os
delinquentes “navegam” entre estilos de vida legítimos e ilegítimos continuamente, uma vez que eles retêm seu código
moral (social), ao invés de apagá-lo e substituí-lo por um código moral ilegítimo, como sugeriam as teorias anteriores.
3 Criminalista norte-americano, conhecido por suas teses sobre a perspectiva do controle social na deliquência juvenil.
4 O caso mais emblemático é o do traficante internacional João Estrella, retratado no livro
Meu Nome Não é Johnny
.
5 Beccaria, Cesare.
Dos Delitos e das Penas
, p. 52.