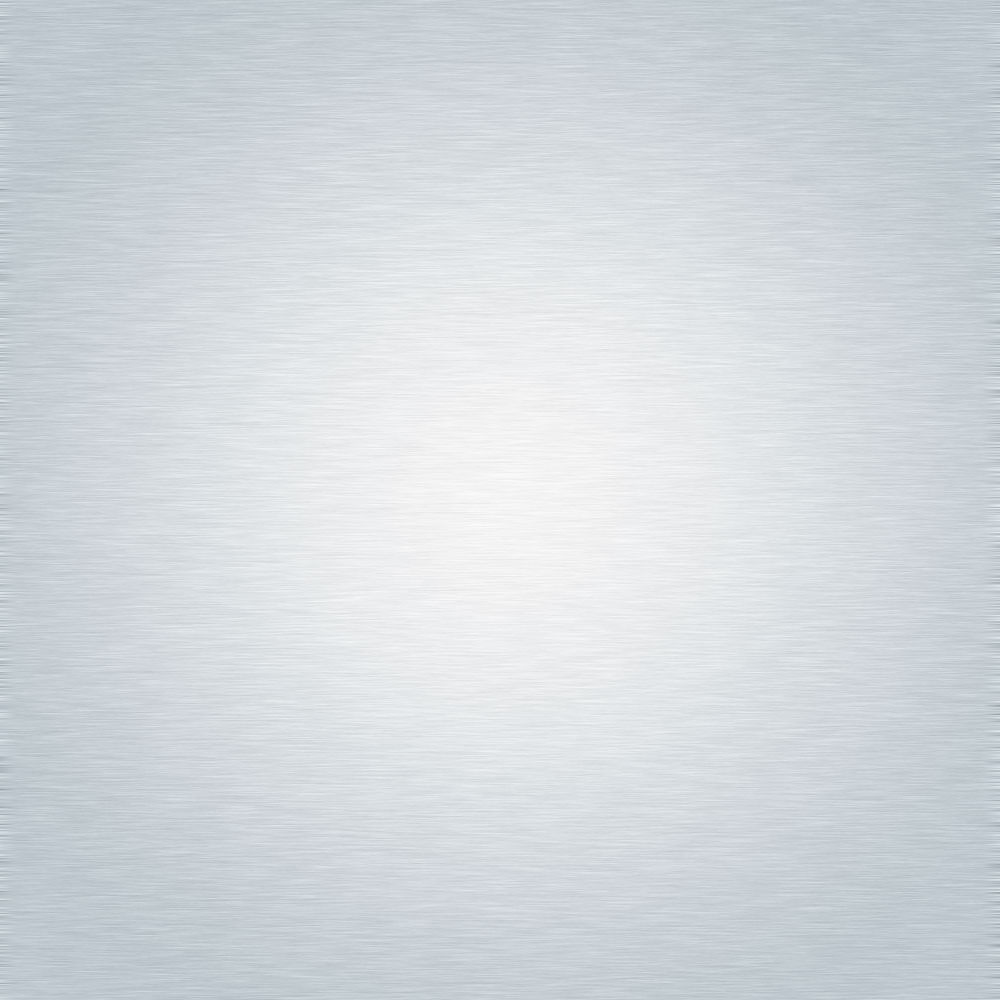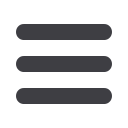
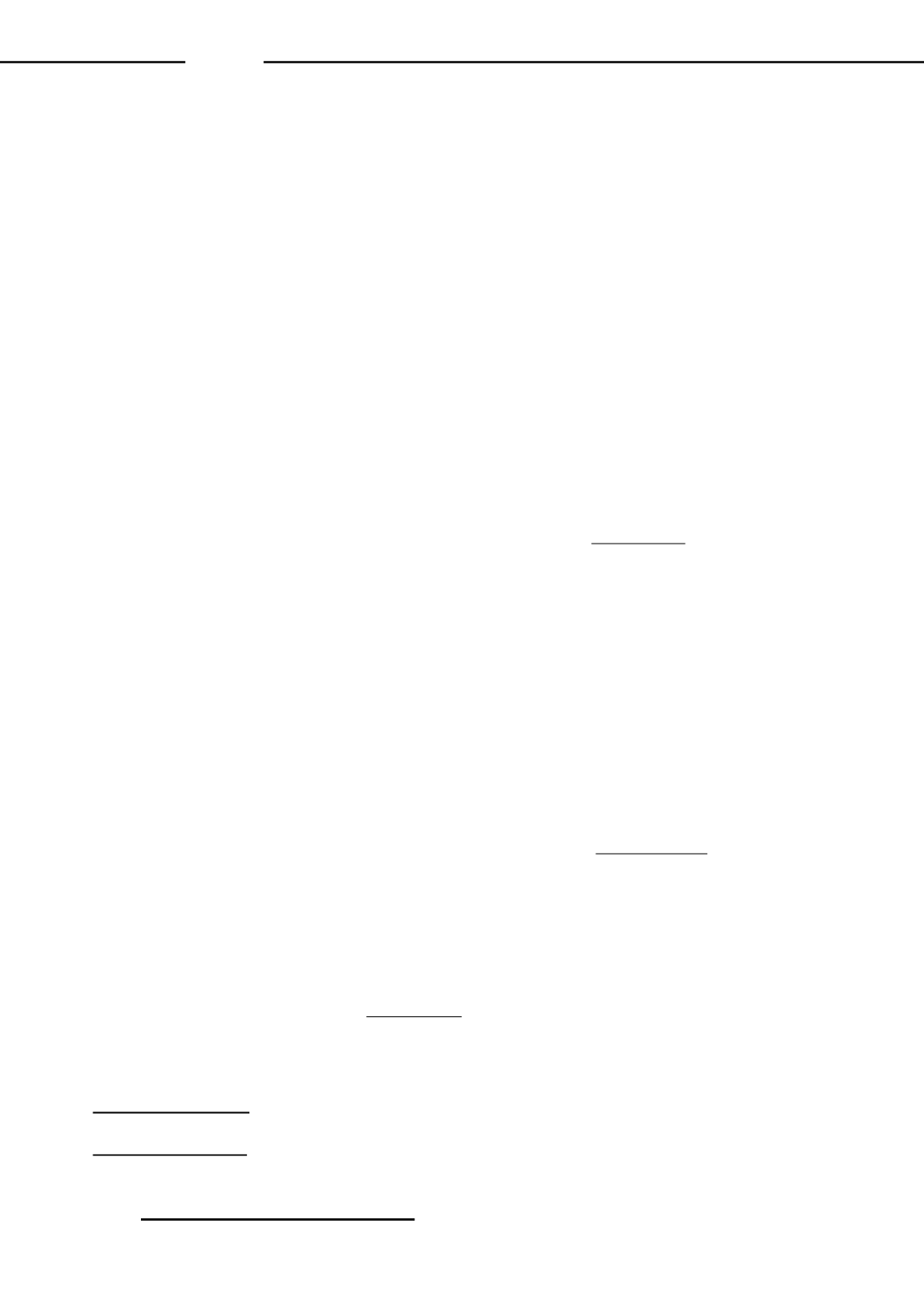
u
ARTIGOS
u
u
Direito em Movimento, Rio de Janeiro, v. 27, p. 25-34, 1º sem. 2017
u
32
a objetividade do pedido, a fim de facilitar a resposta do réu
4
, bem como
a compreensão e participação daqueles que não tem conhecimento jurídi-
co
5
. Esse dispositivo legal, portanto, não deve ser interpretado como per-
missivo ao uso de linguagem coloquial, informal.
Voltando à distinção entre a língua oficial e a língua vernácula, Anto-
nio Houaiss expõe, agora, o conceito de “vernáculo”, em contraposição ao
conceito que já expusemos do mesmo Autor, quando versava sobre a im-
portância da modalidade escrita – atrelada ao conhecimento de Gramática
Normativa – que toda língua de cultura ou de ciência pressupõe. Vejamos:
Sejamos diretos: não escondemos a convicção de que nossa
é a língua portuguesa, porque é de quem a fala a partir de seu
nascimento – o que é dito como língua vernácula.
[....]
Na extensão do nosso território, podemos dizer que é uma
língua comum, que subsiste como tal para a imensa maioria
da população, embora saibamos que é um grande número de
minorias linguísticas aqui conviventes. Na prática, podemos
dizer que nossa língua aqui considerada é a
vernácula
– a que
se aprende em casa a partir do nascimento – para a grande
maioria, havendo minorias que têm vernáculos próprios
(e cuja segunda língua é a da maioria). O Brasil apresenta-se,
sob tal visão, como uma imensa maioria de unilíngues – pois
ou só falam a nossa língua comum ou só falam sua língua indí-
gena – e pequenas (mais ou menos) minorias bilíngues – pois
falam o “seu” vernáculo e a “nossa” comum”. (HOUAISS,
1999: 9-11, sublinhamos; os grifos são originários.)
4 Luiz Fux, Manual dos Juizados Especiais Cíveis, editora Destaque, pag. 48.
5 Felippe Borring Rocha, Manual dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, editora Atlas, 8ª edição, pag. 33.